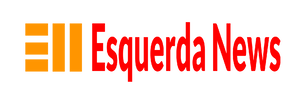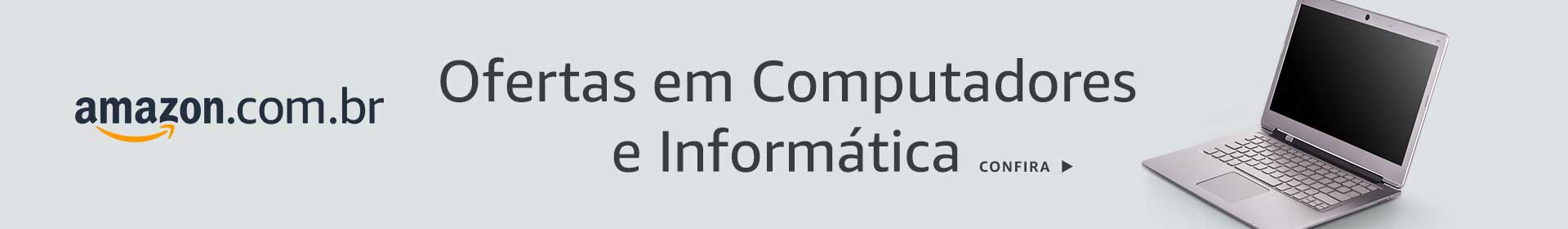Direitos negados. Patrimônios Roubados. Desafios para a proteção dos conhecimentos tradicionais, recursos genéticos e expressões culturais dos povos indígenas no cenário internacional é o título do livro lançado por Fernanda Kaingáng, em 2023. A publicação é fruto da tese que a indígena nascida no território de Tapejara, no Rio de Grande do Sul, defendeu como proposta da pesquisa de doutorado, na Holanda. Advogada, mestre em direito, PhD em patrimônio cultural e propriedade intelectual pela Universidade de Leiden, ela é a atual diretora do Museu Nacional dos Povos Indígenas, órgão científico-cultural da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), no Rio de Janeiro. Seu protagonismo a levou a ser condecorada pela Fundação Casa de Rui Barbosa, com a medalha Rui Barbosa que é concedida a personalidades e instituições que atuam em prol da cultura brasileira. Um percurso de fôlego que faz ressoar em alto e bom tom o compromisso com a justiça, memória e verdade. Fernanda é capaz de capturar a atenção dos ouvintes com uma clareza de propósito invejável. Quando ela desfecha, sem pudor, golpes certeiros contra a hipocrisia e a falta de senso de urgência para temas relacionados à causa indígena e à crise climática, não deixa dúvidas: o futuro é ancestral e o que vemos de melhor nele é a potência do feminino.
A sororidade entre as mulheres indígenas
O indígena como um “fora da Lei” plasmou o imaginário ocidental com base no estereótipo do selvagem que ameaça o desenvolvimento das vilas, das cidades e, sobretudo, o direito à propriedade. Ou ainda, no caso brasileiro, como um incapaz a ser tutelado pelo Estado. Todos conhecemos essa narrativa que autorizou, e autoriza, genocídios ao inverter os papéis que declararam os povos originários como invasores do próprio território em disputa. É nesse contexto marcado por estigmas e litígios, sobretudo entre homens, seja nas florestas, nos latifúndios ou no Congresso Nacional, que se encontra Fernanda Kaingáng. Indígena do povo Kaingáng, considerado um dos cinco povos mais numerosos dentre os originários brasileiros, presentes entre a região sul e sudeste do país. Os Kaingáng são falantes de uma língua que pertence à família linguística Jê. Atualmente, eles ocupam 30 áreas reduzidas, distribuídas entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, totalizando, segundo o Censo IBGE de 2010, uma população estimada em 50 mil pessoas.
Integrante da metade Kamé, grupo que na cultura social do povo Kaingáng constitui a família dos guerreiros, Fernanda sabe, e me fez entender, que guerrear pela legitimidade e pelos direitos, nesse caso não é uma escolha entre revoltar ou não, é sobreviver como mulher indígena. Condição que é transmitida de mãe para filha, desde a primeira infância, em resposta a uma organização patrilinear e a um contexto no qual se exige que as mulheres em todos os cenários de decisão digam: presente!
“Quando você nasce mulher e nasce Kaingáng, ninguém te promete que a coisa vai ser fácil, ao contrário, você é preparada para que as coisas sejam duplamente difíceis, diferentemente dos meninos das nossas comunidades. Eles são salvaguardados pela condição que a masculinidade lhes garante dentro dos nossos costumes, mas quando se veem diante do desconhecido, desmoronam. Hoje, se olhamos para o cenário Kaingáng, temos a presença destacada no movimento indígena de Romancil Kretã, mas o que constatamos é o protagonismo das mulheres. Nós somos preparadas para um mundo que não vai puxar a cadeira para sentarmos. Que vai cobrar que não sejamos apenas boas, mas que sejamos as melhores. Talvez isso explique o suicídio de algumas jovens.”
A cultura Kaingáng é baseada numa organização social dualista. Tradição que se pauta por um sistema de metades no qual os heróis Kamé e Kanhru produzem divisões entre os homens e entre os seres da natureza. Desta forma, segundo a tradição, o Sol é Kamé e a Lua é Kairu, o pinheiro é Kamé e o cedro é Kairu, o lagarto é Kamé e o macaco é Kairu, e assim por diante. Tradição que sustenta o princípio da exogamia entre as metades, na qual os Kamé devem casar-se com a metade oposta, os Kairu, e vice-versa. Os filhos desse casamento ideal recebem a filiação da metade paterna.
Em qual medida novas alianças entre mulheres indígenas combatem a subjugação, dentro e fora dos territórios, e reforçam a ocupação dos espaços é o que Fernanda nos revela. Ela própria uma semente que brotou de uma geração de mulheres insurgentes num cenário de isolamento e que, hoje, ganha outra dimensão entre várias protagonistas que se projetaram globalmente. “Eu sou o que sou muito provavelmente porque na época em que Ângelo Kretã, a maior liderança indígena no Sul, na década de 1970, e Marcelo Tupã´i, liderança Guarani Kaiowá na Reserva de Dourados [no Mato Grosso], foram assassinados, a minha mãe precisou sair da região para não morrer. Era o início dos anos 1980 e fomos acolhidos, bem longe do Sul, por outros povos no Nordeste.”
O letramento como um levante

Fernanda na conclusão de seu doutorado sobre Patrimônio Cultural e Propriedade Intelectual pela Universidade de Leiden, nos Países Baixos (Fotos acervo pessoal).
Sua mãe Andila Kaingáng, também conhecida como Andila Nïvygsãnh, é escritora, artista e arte educadora do seu povo. Professora aposentada da língua Kaingáng e militante do movimento indígena brasileiro há mais de 50 anos, segundo Fernanda, é fruto de um processo de educação latino-americano que repete o mesmo modelo. Nele, as meninas indígenas eram levadas para internatos a fim de absorver os valores da cultura branca etnocêntrica. Andila teve a oportunidade de frequentar o curso de formação de monitores bilíngues Kaingáng do Rio Grande do Sul, no início da década de 1970. Um projeto piloto na formação de professores bilíngues no Brasil que objetivava ensinar a escrever a própria língua, que até então não era escrita. Entretanto, o plano de capacitação difundia, além da estrutura linguística Kaingáng, valores de fora como estratégia de assimilação cultural do Estado brasileiro e destruição cultural dos Kaingáng.
Os professores formados perceberam a abordagem manipulatória e o risco de serem usados como instrumento de desaculturação. Diante dessa descoberta, o grupo se insubordinou e fez do acesso à educação símbolo de resistência, fortalecimento identitário e resgate cultural. Na sua trajetória, Andila não arrefeceu um só instante, como muitas mulheres da sua geração, ela se graduou depois de criar os filhos. Na Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), frequentou o 1º curso de graduação em Educação Específica para Povos Indígenas na América Latina, a experiência promoveu o aprimoramento e intercâmbio entre 198 professores de 36 povos originários do país.
Por conta desse percurso familiar e, sobretudo dessa referência materna, Fernanda conviveu desde jovem com a diversidade de costumes e de cosmovisões. A família experimentou um contato intenso com uma gama de valores e saberes de diferentes povos indígenas das mais distintas regiões do país, numa articulação e união de mulheres que fez e continua a fazer toda a diferença para a política indígena. A negação da identidade foi imposta durante mais de cinco séculos aos Povos Indígenas: ela relata um episódio no qual a mãe defendeu um jovem nordestino discriminado pelos parentes por não ter o fenótipo e nem saber a língua do próprio povo. A discussão envolvia povos indígenas da Amazônia nas indagações feitas por Andila ao grupo: “como vocês tem direito de questionar o cabelo dos parentes do nordeste que serviram de barreiras humanas pra vocês? Como vocês têm coragem de questionar a perda das línguas que eles foram proibidos de falar?”
Quando tinha oportunidade, a jovem Kaingáng sempre estava atenta aos bons oradores. “A fala da minha mãe nunca foi doce. Muito enfática, ela não estava preocupada se a plenária ia gostar do que ela falava. Eu pensava: quando eu crescer, eu vou ser assim”. Fernanda relembra com orgulho o projeto familiar que via em cada uma das filhas “flechas afiadas” que acertariam um alvo: a universidade, entendida como territórios intelectuais a serem conquistados. O objetivo era o de aprender tudo o que podiam e reverter esse conhecimento para os Kaingáng. “No meu caso, lutar significava enfrentar os melhores advogados pagos pelas madeireiras, pelas mineradoras e pelos fazendeiros. E nós não tínhamos a opção de sermos mais ou menos.”
As flechas lançadas por Andila voaram longe. Ela formou cinco pioneiras Kaingáng: uma jornalista, uma escritora, duas advogadas e uma médica. Quando foi necessário, para além da fala, fez um excelente uso da escrita também. É de Andila a autoria da carta dirigida à Ernesto Geisel, presidente da República entre 1974 e 1979, em plena ditadura civil-militar, exigindo a desintrusão do território Kaingáng no Rio Grande do Sul.
Como advogada, Fernanda assessorou a Presidência da Funai e na primeira metade da década de 2000, se tornou diretora executiva do Instituto Indígena Brasileiro para Propriedade Intelectual (INBRAPI), experiência que marca seu interesse e expertise na proteção do patrimônio cultural dos povos indígenas. O posto permitiu a atuação na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), entidade internacional com sede em Genebra e integrante do Sistema das Nações Unidas. Lá, a guerreira Kaingáng ouviu muitos especialistas da área de propriedade intelectual, do direito patentário, do direito autoral, todos discutindo tradição, com o objetivo de estabelecer um lapso temporal para determinar o que teria ou não tradicionalidade para a proteção dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas. “O mundo ocidental dos super especialistas para nós indígenas é muito pouco sábio. Acreditamos que as coisas se conectam e que a questão indígena é transversal. Nós explicamos várias vezes que a tradicionalidade não tem a ver com lapso de tempo. Não é uma questão temporal”.
O protagonismo dos povos indígenas na arena internacional resultou na aprovação do Tratado da OMPI sobre Propriedade Intelectual, Recursos Genético e Conhecimentos Tradicionais, em maio de 2024.
Legitimidade, território e outros espaços

A diretora do Museu Nacional dos Povos Indígenas, Fernanda Kaingáng (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil).
A convivência com diferentes povos indígenas permitiu, também, um entendimento mais amplo de como a tradição não se estabelece por um recorte na linha do tempo. Para Fernanda, o que determina o pertencimento é o vínculo com a ancestralidade e com a identidade. Algo que pode se dar de avó para neta, por exemplo, não sendo necessariamente intergeracional. Os saberes dos povos indígenas são coletivos, mesmo que uma única pessoa seja depositário desses conhecimentos: “Imagina um pajé, a figura mais tradicional de um povo, portador das referências e da espiritualidade de uma comunidade. Ainda que só tenha ele, sem nenhum aprendiz, ninguém vai questionar a tradicionalidade e a identidade dele, como responsável pela medicina que aquele povo usa.”
A epidemia de covid 19 foi vivida sem a vacina em tempo hábil para os Povos Indígenas que, historicamente, foram dizimados por doenças como gripe e tuberculose. O imunizante simplesmente não chegou no território e quando chegou estava desacompanhado de informação em línguas indígenas. Os pajés foram buscar uma resposta na espiritualidade para encontrar o remédio que não se conhecia, mas que a sabedoria da ancestralidade, sim, poderia fornecer. Foi necessário se deixar guiar pelos animais na floresta, descobrir qual a planta certa, o preparo e a dose. Fernanda questiona: “Tradição? O remédio não existia e sabíamos apenas que somos suscetíveis a esse tipo de doença. Às vezes temos que usar a inovação”, rebate.
Outro exemplo que ela nos dá é o das artesãs Marubo, originárias da Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas.
Elas foram proibidas de fazer colar com a concha de caramujo e, agora, fazem um idêntico de PVC. “A tradição é a mesma. Quem faz os colares é o mesmo grupo de artesãs, mas elas se adaptaram por uma questão de geração de renda e por uma proibição determinada pelo Ibama sem consulta livre, prévia e informada aos povos indígenas.”
A disputa entre os pesos e as medidas para formular uma política de proteção baseada em critérios muitas vezes arbitrários faz emergir outra questão: o essencialismo que tenta classificar o “indígena de verdade”. Dilema que provoca discórdia entre os próprios parentes e que faz disparar o alarme do preconceito. Fernanda protesta: “No exterior, fala-se muito sobre a Amazônia, mas sem o Cerrado a Amazônia não resistirá porque os biomas não são isolados: tudo está interligado. Fala-se sobre ‘indígenas de verdade’. Como assim? O resto dos povos indígenas é de pelúcia? Gostaria de perguntar se acham que a gente é de mentira. Somente no meio da floresta é que eu sou de verdade? E quando a floresta foi derrubada e só tem soja transgênica no território indígena? E quem teve que escapar da violência ou sair por que os territórios foram reduzidos para liberar terras indígenas para a expansão das fronteiras agrícolas e o pouco que sobrou está arrendado para o agronegócio? E mais: você é obrigado a estar em aldeia? Tem universidade em reserva? Tem grandes polos de saúde em reserva? Se eu sair do território vão negar minha identidade? Se estiver na aldeia eu sou indígena e se eu sair, deixarei de ser? Isso é colonialismo.”
Há muito que o objetivo é ocupar para além do território. Uma forma válida de abrir os caminhos, segundo Fernanda, é inovar na comunicação. A ideia é reconhecer e valorizar a ciência e a tecnologia existentes entre os povos indígenas. Seja nas conversas acadêmicas, na esfera política ou no mundo corporativo. “Às vezes você está dizendo com outras palavras uma fala ancestral que eles não entenderiam. São falas enormes entremeadas de simbologia, muito própria da nossa gente e que é preciso ser transmitida de uma maneira minimamente compreensível. Quando falamos que somos povos de baixo carbono é porque o estilo de vida dos povos indígenas promove a redução da emissão de gases de efeito estufa. Hoje, existem falsas práticas ecológicas, maquiagem verde: empresas fingem que estão restaurando, mas estão plantando eucalipto transgênico, são desertos verdes, fingem que estão preservando, mas estão desmatando e esgotando o solo. Assistimos empresas discursarem favoravelmente na arena internacional, mas na hora de discutir o pagamento pela redução das taxas de perdas de biodiversidade e de conservação das principais áreas de biodiversidade da terra não existem consensos. Quem sabe sobre floresta em pé é quem mantém floresta em pé.”
Do mundo acadêmico, Fernanda pega emprestada a expressão “extrativismo intelectual” para denunciar a exploração dos saberes dos povos indígenas por pesquisadores seniores, que se apropriam e expropriam sem respeitar e reconhecer a propriedade intelectual dos povos indígenas sobre esses conhecimentos. “As universidades falam das violações cometidas pela igreja, pelo Estados, pelas ONGs, mas elas também praticam a violação de direitos. Reivindicam a autoridade sobre a ciência, mas estão pesquisando em nossos territórios e querem impor seus marcos teóricos. Para a academia, a gente serve para aprender, nunca para dar aula. Por quê?”
São muitas as perguntas que a guerreira Kaingáng e atual diretora do Museu Nacional dos Povos indígenas usa para refletir e tensionar o arco dos protestos. Ao se reconhecer como acadêmica, pensadora, jurista que pretende reivindicar, adiante, uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), se define como flecha talhada para o pensamento intelectual. “Por que eu fui nomeada para a direção do único órgão científico-cultural da Funai? Último baluarte do órgão indigenista que não estava sob direção indígena. Uma indígena que é da região Sul, que não é da Amazônia. Que não é o símbolo do essencialismo antropológico do “índio de verdade”. Mas ninguém mais autêntico para estar lá. Para afirmar: nós vamos construir política pública com povos indígenas porque hoje falamos em primeira pessoa!”
Uma estatística que não vai se repetir

Fernanda sofreu muita pressão para atuar na área fundiária. Entretanto, falou mais alto seu instinto de preservação da vida. “Eu sou mulher, ambientalista e ativista do direito ambiental, tudo isso é triplamente perigoso. A questão fundiária é o eixo da morte. Quando eu denunciei o agronegócio, fiz por solidariedade a quem vive no território. Eu tenho a opção de não viver lá, tenho condições para que meus filhos nunca passem fome na vida. Mas meu povo passa fome, meus velhos passam também. Eu fui ameaçada, quase morri, saí com a roupa do corpo da comunidade. Quando recorri à OAB a resposta que recebi foi: não vire uma estatística, doutora.”
O litígio a obrigou a descontruir a notícia polêmica de uma briga interna na qual a disputa seria o cacicado Kaingáng. “Não estudei 27 anos para ser cacique. Você é preparado pela sua linhagem, pela capacidade de ser uma liderança e de se preocupar com o bem estar de uma coletividade. Esse individualismo e práticas autoritárias não são próprios da cultura e da organização Kaingáng: são heranças nefastas do colonialismo que deformou nossas formas tradicionais de organização social. A partir daí publicações de instituições pró indígenas como o Instituto Socioambiental (ISA) e o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) divulgaram que o arrendamento causa conflitos internos entre os indígenas e o que está em jogo são interesses econômicos externos. Quando fui ameaçada, pedi para o indigenismo denunciar o agronegócio, as elites rurais locais que lucram com arrendamento e com a morte do meu povo. Foi o SPI e a Funai que implantaram e promoveram o arrendamento das terras e isso está amplamente documentado e precisa ser erradicado.”
Descontruir argumentos historicamente consolidados como narrativas oficiais, contaminadas por interesses institucionais, é uma das batalhas que Fernanda enfrenta. A luta ganhou relevância quando ela trabalhou na equipe do pesquisador e ativista Marcelo Zelic, fundador do Armazém Memória, um incansável divulgador das violações aos direitos dos povos indígenas perpetradas pelo Estado brasileiro. Foi dele a responsabilidade pela descoberta do Relatório Figueiredo documento produzido, em 1967, que retrata as violências cometidas contra os povos indígenas no período da ditadura militar. Ele atuou diretamente na Comissão Nacional da Verdade (CNV) e defendeu a criação de uma Comissão Nacional da Verdade Indígena para investigar os presídios indígenas em Minas Gerais, criados no período da ditadura, conhecidos como Reformatório Krenak e Fazenda Guarani. “Marcelo sempre falava do crime de tutela que é uma tipificação que não existe e que se aplicaria aos tutores, no caso o SPI e a Funai, por terem violado os direitos indígenas que deveriam proteger”
Memória, justiça e verdade também norteiam a justiça de transição como conceito que traduz um conjunto de medidas adotadas para enfrentar as violações sistemáticas dos direitos humanos em regimes autoritários. Fernanda pontua que a memória é sua grande contribuição como diretora de um Museu Nacional dos Povos Indígenas, instituição que conta com um imenso acervo imagético, documental e etnográfico de povos indígenas de todas as regiões do Brasil. A justiça de transição se aproxima de outro modelo contemporâneo das boas práticas do direito, a justiça restaurativa, que valoriza a reconciliação, a reintegração ao invés da punição severa. São práticas que se comprometem com a admissão dos erros históricos e demandam a reparação do Estado brasileiro. “A verdade que não foi contada é a que revela o que são nossos territórios e o processo de violência que sofremos coletivamente.”
A criação de mecanismos de reparação e de não repetição das violações cometidas são pontos considerados estratégicos, assim como o de se valer da cultura para que “a flecha voe mais longe”. A jurista pondera que música, contação de história, cinema e dança circulam mais e melhor que “textos jurídicos que pingam sangue”. Entretanto a perspectiva é sempre a da guerreira diante de um executivo, judiciário, legislativo dominados por elites brancas, cujos interesses econômicos são frontalmente contrários aos povos indígenas e suas cosmovisões.
“Todas as armas serão necessárias, todos os aliados indispensáveis para que a gente tenha um futuro ancestral, como diz Anapuáka Tupinambá [liderança, comunicador indígena, fundador da Rádio Yandê]. Não é mais o tempo de discutir quem tem a culpa, é o tempo de transformar as palavras em medidas concretas, as metas em realidade. A mudança climática é uma realidade.”
Fernanda Kaingáng (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Fernanda, pondera que pouco tem sido o apoio concreto para o Ministério dos Povos Indígenas reparar 524 anos de negação de direitos. Como integrante da Funai, revela que a pressão e a cobrança por resultados nesses quase dois anos de governo, é incompatível com o desafio de soerguer uma rede que foi desmantelada e que conta com pouquíssimos funcionários. “Nosso Ministério está cumprindo o seu papel em uma proporção maior do que apoio que ele recebe, que é pouquíssimo em comparação com as demandas acumuladas. Avança porque Sonia Guajajara é mundialmente conhecida e Joenia Wapichana é uma defensora intransigente dos direitos territoriais dos povos indígenas. Mas como superar os desafios quando temos como adversário um Congresso Nacional que rasga a nossa Constituição para assegurar a exploração das nossas terras? Os interesses econômicos promovem o tempo todo a reedição da violência que sempre esteve em curso, através de mecanismo governamentais que nos atacam, como o marco temporal, um genocídio legislado, como afirma a deputada federal Célia Xakriabá. Em verdade, nem as terras demarcadas estão seguras. O nosso usufruto é violado todos os dias mesmo dentro daqueles territórios que deveriam ser altamente protegidos.”
Num cenário que requer soluções concretas para atender às demandas represadas e solucionar situações crônicas de ataques aos direitos dos povos indígenas, medidas urgentes precisam ser tomadas. A movimentação é intensa, com muitas viagens, reuniões de alinhamento, embates, protestos, articulações, visitas à diferentes territórios e respostas diretas a quem é crítico ao protagonismo indígena no poder. “Não há mais espaço para tutores institucionais, precisamos de aliados!” Chegou a hora e a vez dessa geração trilhar o próprio caminho na representatividade e, além, na macropolítica brasileira. Fernanda está disposta a ocupar os espaços que lhe couberem atuar. É hora de agir.
Marcelo Carnevale é carioca e reside em São Paulo há 19 anos. Jornalista, mestre em Literatura Brasileira pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Doutor em Humanidades pelo Diversitas, Programa de Pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP). Pesquisa o conceito ampliado de vizinhança através de práticas dialógicas, de tecnologias comunitárias e do direito à cidade. Integra o grupo de pesquisa, ensino e extensão do Diversitas USP. Colabora com a Amazônia Real desde 2016.
Veja outros perfis de “A palavra como flecha”
We´e´ena Tikuna
Ibã Huni Kuin
Puyr Tembé
Davi Kopenawa Yanomami
Tiago Hakiy
Brô Mc’s
Márcia Mura
As informações apresentadas neste post foram reproduzidas do Site Amazônia Real e são de total responsabilidade do autor.
Ver post do Autor