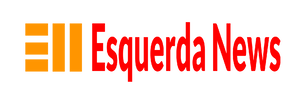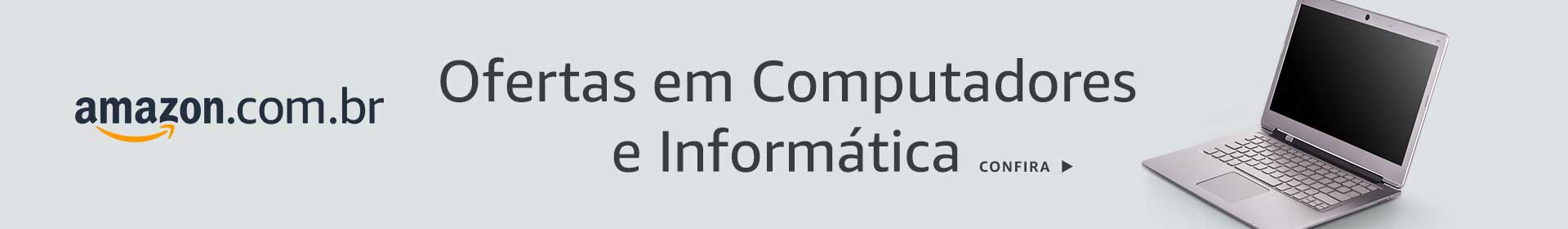O jornal A Província do Pará, de Belém, já extinto na versão impressa em papel, tinha, como vários outros, uma seção de retrospectiva. Republicava algumas das suas matérias de quatro ou cinco décadas antes. Em 1967, o titular faltou ou se afastou, não lembro direito. O diretor de redação, Cláudio Augusto de Sá Leal, me encarregou de substituí-lo. Eu ingressara no jornal, menos de um ano antes, quando tinha 16 anos, justamente por causa do meu interesse por história. Meu primeiro texto foi sobre o final da Segunda Guerra Mundial.
Para fazer a retrospectiva, fui ao Arquivo Público do Estado (que ainda abrigava a biblioteca pública), bem ao lado, na rua Campos Sales, no centro antigo de Belém. Lendo as coleções do jornal, minha curiosidade foi desviada para outras fontes. Acabei na figura de Filipe Patroni, dono e principal redator do primeiro jornal da Amazônia, O Paraense, de 1821.
Patroni era então um vanguardista, mesmo sendo também um conservador. Combinava ideias políticas republicanas, que poderiam ser materializadas através da adesão ao constitucionalismo recém-adotado da metrópole portuguesa. Também propunha a abolição da escravatura. Era uma personalidade apaixonada e apaixonante.
Voltei para a redação com uma reportagem sobre Patroni. Leal, bem mais velho do que eu, se empolgou. Deu uma página inteira ao meu artigo, justificando a importância: eu mostrara que Patroni foi um homem lúcido antes de ser considerado louco. Quem combatia suas ideias impusera a visão de um louco desde sempre. Imaginar utopias era considerado, pelo establishment, uma maneira mal disfarçada de demência.
De pesquisa em pesquisa, me convenci de um fato: a história do ciclo dos “motins políticos” na última província a aderir à nova nação brasileira só poderia ser integralmente reconstituída pelo acesso à farta, maltratada e mal aproveitada documentação primária existente no Arquivo Público do Pará, em milhares de códices manuscritos. Minha pesquisa nessa fonte durou até 1975. Copiei milhares de páginas, junto com minha então esposa, Lenil, e, depois, com o auxílio da minha irmã, Eliaci. Registro aqui meu tributo de gratidão a elas.
No entanto, a divulgação de alguns dos resultados das minhas pesquisas só chegou à forma impressa, no livro Cabanagem – O massacre, 45 anos depois. Em três ocasiões, porque o acompanhamento da feroz, inesgotável, apaixonante e assustadora conjuntura amazônica me fez perder o fio da meada ou simplesmente deixar completamente de lado a cabanagem.
Desafios mais urgentes e ingentes se impuseram ao jornalista do cotidiano numa frente amplíssima. Paguei um alto preço, em todos os sentidos, por enfrentar esses desafios. Pago esse preço ainda hoje, aos 75 anos.
Minha mais útil contribuição ao passado da história foi hipotecada na mesa da contemporaneidade. A reconstituição do que foi acabou sendo dramaticamente sacrificada pelo esforço de não permitir que o está sendo ficasse ao menos com um registro por escrito. Mesmo que só venha a ser lido por arqueólogos, quando a Amazônia terá deixado de ser como ainda agora a vemos, apesar das devastações.
Tenho ao menos a esperança (ou ilusão) que a preciosa listagem de cabanos e aderentes presos e/ou mortos na repressão à revolta “dos que não têm contra os que têm” dará um novo rumo à historiografia da cabanagem, se os que a escrevem consultarem os dados apresentados no livro. Eles vão possibilitar ricas análises e interpretações com base em informações primárias sólidas sobre raça, trabalho, posição social, econômica e política.
Permitirão o fim de generalizações abstratas e erráticas, à base de paixões e desconhecimentos sobre os acontecimentos reais.
Os registros por raça, conforme a classificação definida nos documentos, mostram que o número de negros presos (707) era superior ao dos índios (458), por sua vez inferior ao dos brancos (477), o que não deixa de ser surpreendente. Claro: sem esquecer que a estatística não inclui a maioria dos mortos em combate no interior da região, principalmente na fase de captura dos foragidos. Era preciso “pacificar” o Grão Pará, eliminando os rebeldes a pacificar (foi a fase mais sangrenta do movimento). Calcula-se que 20% dos 150 mil habitants da província tenhammorrido em cinco anos (1835-1840).
A diversidade de profissões também é surpreendente. Os prisioneiros declararam ter 71 profissões. A maioria deles (749) trabalhava na lavoura; 213 eram livres,110 escravos, 92 carpinteiros, 69 soldados, 57 alfaiates, 23 carpinas, 21 merceeiros, dentre outros. 121 não tinham ofício; e nada menos do que 12 ourives.
O maior número de mortes aconteceu em 1837 (235), 1836 (174), 1838 (144) e 1839 (89). Das prisões, 614 foram em 1836, 523 em 1837. Dos que não morreram na corveta Defensora (451), 183 morreram de bexigas nos hospitais militares e religioso, enquanto 87 foram incorporados como recrutas e mandados para o sul, principalmente para o Rio de Janeiro; alguns degredados foram para a ilha de Fernando de Noronha. Foram soltos 191 cabanos, sobretudo escravos, devolvidos aos seus donos. Treze conseguiram fugir.
Todos esses números devem ser relativizados porque não há paradeiro definido nas anotações sobre 859 presos. É de se prever que grande parte deles tenha morrido a bordo da corveta Defensora, mais uma nave da Marinha brasileira que serviu de prisão (quando não de túmulo) sobre água na baía do Guajará, em frente a Belém. Muitos foram recrutados ou colocados em algum serviço público; 79 tiveram como último destino o Arsenal de Marinha, a partir do qual não deixaram mais pistas.
A documentação, até agora jamais publicada, reúne o conteúdo dos códices 531 (Correspondência de Diversos com o Governo em 1836), mais os códices 972, 973, 974, 1.130 e 1.131, todos estes com a Relação Nominal de Rebeldes Presos.
A esmagadora maioria dos presos arrolados passou algum dia pela corveta Defensora, transformada num presídio flutuante, ou nela morreu. A Defensora foi construída originalmente no Arsenal de Marinha da Bahia, com base em duas madeiras, a sucupira e o potumaju. Sua quilha foi batida em 1827 e seu lançamento ocorreu em 3 de janeiro de 1828. Tinha “108 pés de quilha, 127 pés de roda a roda, 32 pés de boca, 17 pés e 7 polegadas de pontal ‘do canto superior da quilha à fase superior dos vãos do convés na amurada’”.
Era aparelhada à galera e artilhada com 26 peças de calibre 12. Em operação de guerra, podia abrigar 211 praças; na paz, 170. Em 1830, foi transformada de fragata em corveta, perdendo duas peças de artilharia. No dia 23 de janeiro de 1832 aportou em Belém para deixar os tenentes-coronéis José Joaquim Machado de Oliveira e Seabra, nomeados presidente e comandante das armas do Pará. A 6 de junho do mesmo ano, o capitão-de-fragata Guilherme James Inglis substituiu o comandante Diogo Inácio Tavares à frente da embarcação, que ficou estacionada ao largo da capital paraense.
Com o assassinato de Inglis pelos cabanos em janeiro de 1835, o 1º tenente José Eduardo Wandenkolk assumiu o comando. Vinagre tentou desarmar a corveta para usar seus canhões na defesa da cidade e enfraquecer a força naval. Havia uma ordem de desarmamento da Marinha de 8 de outubro de 1834. O inspetor, comandante-de-mar-e-guerra Guilherme Cipriano Ribeiro, foi encarregado da missão. Mas a oficialidade naval, reunida em 1º de abril de 1835, reagiu à determinação e decidiu não dar-lhe cumprimento.
O comando da Defensora passou então ao 1º tenente João Maria Wandenkolk, futuro almirante e barão de Araguari. Durante a duração da cabanagem passaram ainda pelo comando outros oficiais, como o capitão-de-fragata Guilherme Eyre, o tenente Xavier de Alcântara e o 1º tenente Manoel Francisco da Costa Pereira.
Em seu relatório de 1837, o ministro da Marinha informava que a corveta continuava em obras, para cuja execução o Arsenal de Marinha de Belém fora aparelhado, a evitar de evitar a sua “ruína”. Ao assumir a presidência da província, o marechal Manuel Jorge Rodrigues decidiu transformá-la em “depósito de prisioneiros cabanos”.
Já em 5 de setembro de 1835 ela abrigava 247 prisioneiros. Oito dias depois recebeu mais 17 cabanos, procedentes de Cametá. Logo em seguida começaram surtos de doenças a bordo (varíola, fluxo de ventre e escorbuto), que mataram 139 presos. Em 27 de outubro eles somavam 150 presos.
Até 15 de novembro desse mesmo ano, 163 presos morreram a bordo “em consequência da má alimentação, da água, da pouca higiene”. A Defensora passou a ser conhecida como “cemitério dos cabanos”.
Dos remanescentes, 59 foram enviados para o Rio de Janeiro, a bordo da fragata Campista, tão logo o general Andréa assumiu a presidência da província, dentre eles um irmão de Angelim. Em 17 de abril de 1836, Andréa comunicou ao ministro da Marinha que a Defensora estava “reduzida a depósito de presos; e por muito tempo não poderá servir de outra coisa, que está tão podre pelos altos e não tem mais que os mastros reais”.
O fluxo de prisioneiros, porém, continuou e foi intensificado: em 4 de junho dela foram retirados mais 22 presos, remetidos para o Rio de Janeiro no brigue Três de Maio; em 17 de junho seguiram pelo Patagônia mais 16; e nada menos do que 145 foram despachados pela charrua Carioca.
Ainda assim, em 1º de agosto o próprio Andréa informava que continuavam a bordo da corveta cerca de 340 presos a ferro, “vivendo em um verdadeiro inferno, apesar de quantas se façam para melhorar sua sorte”, sobrevivendo a meia-ração.
Entre os que continuavam no depósito estavam Vinagre, Meninéa, Aranha, Justo, Feio, Portilho e Piroca. Em junho de 1838 foram retirados de bordo mais 34 presos, incluindo vários padres, que seguiram para o Rio (o acumulado de transferências até então era de 283 presos).
Em 2 de setembro de 1838, Andréa comunicou ao ministro da Marinha que a Defensora “estava ameaçada de ir ao fundo, pela muita água que fazia, mas que sendo o único lugar que podia ter, em segurança, os rebeldes mais criminosos, mandou-a fundear mais chegada à terra, para poder encalhar em caso de urgência, e assim se conservar fazendo menos água”.
Em 15 de março de 1839, o comandante João Manoel da Costa deixou o comando da corveta, sendo substituído pelo 1º tenente Francisco Xavier de Alcântara. Foi elogiado pela “disciplina e asseio em que manteve o navio. Pelo que diminuiu sensivelmente a mortandade que se observava antes”.
Em abril de 1840, por já estar “muito arruinada”, a Defensora foi desarmada e encalhada “para as bandas do Arsenal de Marinha, onde aos poucos a despojaram de todos os ferros e bronzes úteis”, e desmanchada. Os presos passaram para bordo da corveta Amazonas. (In Subsídios para a História Marítima do Brasil, volume XX, Rio de Janeiro, 1963/64, págs. 11/14).
Quando as tropas legais entraram, as pessoas deviam se apresentar à autoridade competente. Parece que, a partir de certo tempo, os presos deviam se recolher espontaneamente à corveta.
Espero ter aberto um novo horizonte para pesquisadores da cabanagem e oferecido uma fonte de informações válidas a todos os leitores. Se as forças me permitirem e a conjuntura amazônica não me demandar tanto, também espero escrever mais dois ou três volumes a partir das notas que reuni. Escrever a história é preciso. Fazê-la melhor, se possível.
Esta é uma versão corrigida, ampliada e atualizada da apresentação do meu livro, lançado em janeiro de 2020.
O post Cabanagem: o desafio da Esfinge apareceu primeiro em Amazônia Real.
As informações apresentadas neste post foram reproduzidas do Site Amazônia Real e são de total responsabilidade do autor.
Ver post do Autor