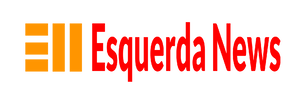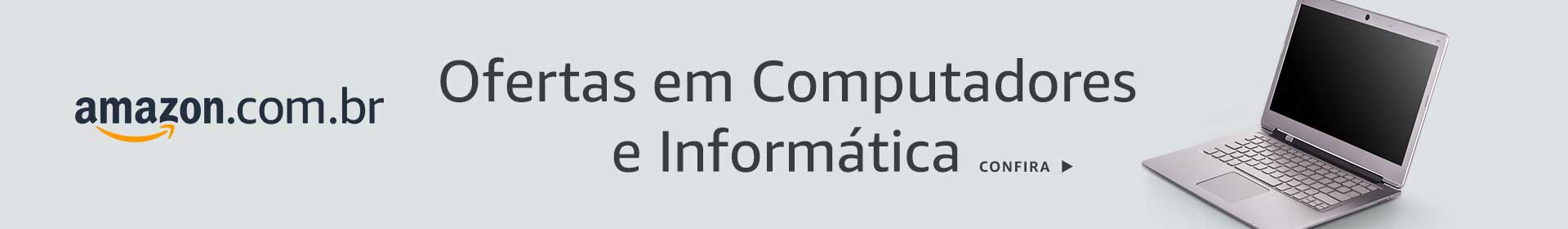Próximo à bandeira que marca o ponto mais alto do Brasil, em uma altitude de quase 3 mil metros no Pico da Neblina, Amazonas, em 2017 pesquisadores reviraram uma pedra e encontraram um pequeno sapo castanho com cerca de 2 centímetros (cm) de comprimento. Não tinham ideia de como classificá-lo. Cerca de mil metros mais abaixo, encontraram outro anfíbio enigmático, ligeiramente maior, em meio ao capim. Só com sequenciamento genético, seis anos depois, foi possível explicar a dificuldade de identificar os achados: eles pertencem a duas novas famílias – Neblinaphrynidae e Caligophrynidae –, conforme descrito em artigo publicado em novembro na revista científica Molecular Phylogenetics and Evolution.
Em cada uma delas, só são conhecidas (por enquanto) as espécies encontradas, que receberam os nomes de Neblinaphryne mayeri e Caligophryne doylei. Elas foram descobertas em ambientes abertos, sem a floresta que se imagina para a Amazônia. “São campos extensos de bromélias ou gramíneas”, explica o zoólogo Miguel Trefaut Rodrigues, da Universidade de São Paulo (USP), coordenador da expedição. Ele lamenta não ter conseguido gravar o canto de nenhuma delas, o que os herpetólogos costumam fazer saindo depois do pôr do sol, munidos de gravadores. “Fomos às áreas à noite e não ouvimos nada que pudesse ser a vocalização desses animais”.
O nome do primeiro sapo homenageia o general Sinclair James Mayer, responsável por contatos entre projetos universitários e o Exército. “Sem ele, não teríamos feito a expedição ao pico da Neblina em 2017 nem a seguinte, à serra do Imeri, em 2022″, conta Trefaut. Ele ressalta que não há forma de viabilizar viagens desse tipo sem a contribuição do Exército, pelos custos altíssimos e pela logística desafiadora. “São necessários muitos voos de helicóptero, a universidade e os fundos de projetos não permitem nem pagar o combustível.” No dia 14 de dezembro, Mayer recebeu a notícia no cinema do campus (Cinusp) durante a pré-estreia do documentário ‘No topo da Amazônia – Em busca de novas espécies’, sobre a expedição mais recente.
A segunda espécie faz referência ao livro ‘O mundo perdido’, do escritor escocês Arthur Conan Doyle (1859-1830). Na obra de ficção publicada em 1912 pelo autor já renomado pela criação do detetive Sherlock Holmes, um jornalista se junta a uma expedição científica para um estranho platô no Brasil, onde a fauna é tão inesperada que até dinossauros há. A conexão com o pico da Neblina e arredores salta aos olhos para os zoólogos versados em literatura.
As serras da Neblina e do Imeri ficam no Pantepui, uma região formada pelos vestígios de terras altas do escudo das Guianas, na porção norte da Amazônia. Em sua maioria, compreende terrenos sedimentares da formação Roraima, que há cerca de 1,5 bilhão de anos estava no mar e se soergueu, depois sofrendo erosão que escavou as bordas das elevações tabulares que hoje permanecem. “Na serra do Imeri não restou nada da camada de sedimentos da formação Roraima”, explica Trefaut. “Na serra da Neblina ainda tem”.
O zoólogo da USP conta que as duas novas famílias de sapos são completamente diferentes das demais, das quais divergiram há pelo menos 45 milhões de anos. Neblinaphrynidae é o grupo-irmão da maior parte da superfamília Brachycephaloidea, que abriga cinco famílias de sapos da região tropical, subtropical e andina das Américas. Caligophrynidae tem como parente mais próximo a família Brachycephalidae, da Mata Atlântica, cujos representantes mais marcantes são os sapinhos-pingo-de-ouro. É um indício interessante da conexão antiga entre esse bioma e o amazônico.
“São linhagens tão antigas que as espécies aparentadas podem ter sido todas extintas”, sugere Trefaut. Ele explica que o clima ali era muito diferente no passado, e só no final do Cretáceo, cerca de 60 milhões de anos atrás, as condições se tornaram favoráveis para o estabelecimento de uma fauna. “A montanha onde é hoje o pico da Neblina já foi muito mais alta”, exemplifica.
Para o zoólogo especialista em anfíbios Célio Haddad, do campus de Rio Claro da Universidade Estadual Paulista (Unesp), esse cenário é provável. Ele também considera plausível que a linhagem tenha ficado por tanto tempo isolada no topo da montanha, que acabou se diferenciando em uma nova família. “As montanhas são locais onde há muito microendemismo”, comenta, referindo-se à possibilidade de espécies existirem apenas em uma área muito restrita. “Sabemos que a chance é grande de encontrar coisas novas, e mais achados devem acontecer quando se conseguir chegar a outras áreas remotas, ou alguém retornar a esses pontos.”
Haddad já investigou a formação de espécies de anfíbios anuros (sapos, rãs e pererecas) em ambientes de altitude, mas esbarrou em problemas logísticos: encontrar pilotos de helicóptero dispostos a enfrentar as condições para chegar a lugares inacessíveis. “As empresas não aceitavam”, relata ele, que precisou se contentar com pontos mais fáceis de chegar. “Encontramos espécies novas, mas nada como aconteceu com o Miguel.”
Novas expedições poderiam revelar outros integrantes desses grupos de sapos, mas elas não acontecem com frequência a montanhas tão remotas. Os animais e plantas coletados em 2022 na serra do Imeri ainda estão sendo analisados. Essa dualidade, de uma biodiversidade única com provável histórico de extinções, leva os pesquisadores a qualificarem a região montanhosa da Amazônia ao mesmo tempo como um berçário, onde surgem novas espécies, e um museu, que guarda testemunhos de outros tempos.
As informações apresentadas neste post foram reproduzidas do Portal Amazônia e são de total responsabilidade do autor.
Ver post do Autor