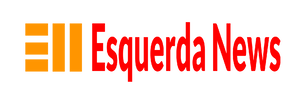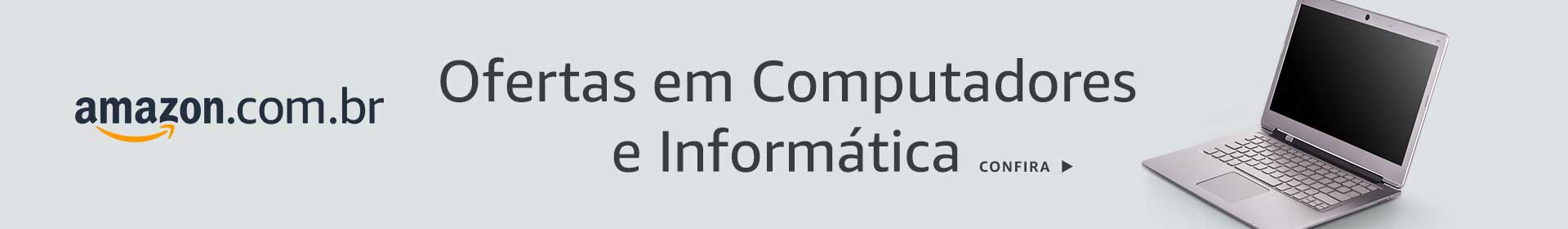Índice
ToggleIniciativa no Estado da Amazônia revela o apagamento de direitos, a violência e a luta por justiça de indígenas presos, que buscam soluções e o reconhecimento da Justiça. Na imagem acima, equipe da Defensoria na Penitenciaria agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista (Foto: Ascom DPE-RR).
Boa Vista (RR) – Indígenas privados de liberdade em Roraima enfrentam um apagamento sistemático nas prisões do Estado. Com os próprios códigos de ética desrespeitados pela Justiça não indígena, eles encaram preconceitos, assédios e até agressões no sistema prisional. Na lista da violação de direitos, há também ausência de esclarecimentos para obtenção de uma defesa digna e gratuita, falta de intérprete e, já na prisão, são colocados em submissão a outros presos integrantes de facções criminosas.
Em uma iniciativa inédita para romper esse ciclo de violações, a Universidade Federal (UFRR), a Defensoria Pública (DPE-RR), o Tribunal de Justiça (TJRR), a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc) e lideranças indígenas se uniram para criar um mutirão. O objetivo é levantar a situação vivenciada pelos indígenas antes da prisão, durante a detenção e no cumprimento da pena.
O mutirão prisional indígena, iniciado em março, acontece no Estado que abriga a maior proporção de população indígena do Brasil – 15,2% (97.668 pessoas) segundo o último Censo. Mas dentro dos registros oficiais do sistema penal, a presença desses povos desaparece. A estimativa da Defensoria e Tribunal de Justiça é que mais de 300 indígenas estejam presos em Roraima, embora a maioria sequer seja reconhecida como tal nos processos judiciais.
À Amazônia Real, a Sejuc informou que há 293 pessoas indígenas privadas de liberdade no sistema prisional de Roraima. Desse total, 260 são homens e 33 mulheres, pertencentes majoritariamente aos povos Macuxi (208) e Wapixana (66). Também existem registros de três Yanomami, 1 Ingaricó e 15 pessoas sem etnia identificada. Do total de indígenas presos, 40 ainda aguardam julgamento em regime preventivo, enquanto 93 cumprem pena em regime fechado e outros 33 estão no semiaberto. O Censo de 2022 registrou um total de 2.741 pessoas privadas de liberdade no sistema prisional do Estado.
Um caso acompanhado pela defensora pública Jeane Xaud, durante audiência de custódia em Boa Vista, em março de 2024, expôs despreparo estrutural do sistema de Justiça em lidar com a diversidade dos povos indígenas. O preso era um homem da etnia Yanomami, do subgrupo Sanöma, detido por suposta violência doméstica contra sua companheira, também indígena, em uma área próxima à Feira do Produtor (local onde frequentemente famílias Yanomami se instalam ao vir da Terra Indígena para a cidade). Mas a audiência, conforme a defensora, mostrou que pouco ali estava sendo compreendido e quase nada respeitado.
“Ele sequer falava português, mas foi questionado sobre endereço, telefone, onde dormia na cidade, se sabia por que estava sendo acusado. Era como se estivessem ouvindo qualquer outra pessoa, e não alguém de uma cultura e cosmovisão completamente diferentes”, relata Jeane, que é coordenadora do Grupo Especial de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da DPE-RR. “A cada pergunta, eu me perguntava: como esperar respostas que façam sentido se ele nem compreende nossa língua e nossas lógicas?”
Mesmo com a presença de um intérprete na audiência, a juíza decretou a prisão preventiva do indígena. Ela alegou a dificuldade de localizá-lo posteriormente e a necessidade de proteger a vítima. Para a defensora, a decisão, no entanto, deixou a mulher ainda mais vulnerável. Com apoio da Defensoria Especializada no Atendimento à Mulher e da Casa da Mulher Brasileira, foi possível ouvir a vítima, também com auxílio de um intérprete. Ela deixou claro que não queria permanecer na cidade. Após articulações com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), a equipe conseguiu viabilizar seu retorno à terra indígena, para a casa de um tio. Já o agressor foi solto e desapareceu do radar da Justiça, segundo Jeane Xaud.
“Apesar de já contarmos com alguns avanços, como a presença de intérpretes nas audiências, muitos indígenas ainda passam silenciados pelas delegacias, sendo presos sem qualquer explicação e, em diversos casos, com uso de violência – principalmente os Yanomami”, afirma a defensora.
O caso é singular para mostrar o tipo de assistência dada ao indígena no momento da prisão e também no pós-custódia. “O único direito que conseguimos garantir de toda uma política pública prevista em lei foi a presença do intérprete. E isso só aconteceu na audiência. Desde a prisão até o momento da custódia, ele ficou isolado em silêncio forçado, sem qualquer comunicação”, conta a defensora Jeane.
Vulnerabilidade nas prisões
Um indígena do povo Macuxi, identificado como Francisco* para preservar sua identidade, relatou à Amazônia Real sua experiência na prisão. Ele descreveu hostilidade de agentes penitenciários, uma condenação sem provas e a impossibilidade de cumprir a pena segundo as tradições de seu povo.
A exclusão e o racismo se manifestaram de forma brutal já em seu primeiro dia na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC). “Se minha esposa não tivesse chegado na hora [da agressão], eu não estaria mais vivo. Fui muito espancado [por presos] no sistema. Eles iam acabar comigo”, denuncia a ex-liderança indígena de Roraima. Segundo ele, os reeducandos que já estavam no sistema o agrediram por recusar ser submisso à facção.
Francisco foi condenado inicialmente a oito anos e seis meses de prisão. Ele foi atendido por advogados particulares pagos pela família. Após dois anos em regime fechado, a pena foi revista, permitindo que respondesse em liberdade por seis anos.
“O advogado estudou tudo e disse: você vai estar fora, mas respondendo em liberdade. Não teve prova, mas ainda assim fui sentenciado”, lamentou Francisco. O indígena relatou que a juíza ignorou testemunhas importantes, incluindo uma professora e seu irmão, alegando que estavam mentindo.
A indignação de Francisco vai além de uma dor pessoal. Ela se estende ao tratamento que ele e outros indígenas recebem dentro e fora do cárcere. “A pessoa adoece e só é levada ao hospital quando está para morrer. Conhecidos meus já morreram no sistema. Meu tio, por exemplo, foi preso por uma acusação, ficou doente e morreu ano passado”, relembrou.
A ex-liderança indígena explicou que muitos parentes estão presos por envolvimento com drogas. “Quando denunciam, prendem logo o indígena. Porque o indígena, além de ser pobre, é mal visto: dizem que é ladrão, vagabundo, que não trabalha. É isso que a gente ouve.”
A sua vivência no sistema penal levantou em Francisco um questionamento crucial: por que não teve o reconhecimento de ser julgado segundo os princípios da justiça indígena, um direito previsto na Constituição Federal (artigo 231) que assegura aos povos indígenas a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. A legislação brasileira reconhece a pluralidade jurídica e a possibilidade dos povos originários solucionarem seus conflitos internos com base nos seus sistemas normativos.
“Os não indígenas dizem que o crime é o mesmo, seja branco, negro ou indígena. Dizem que todo mundo tem que ir para a cadeia. Isso é um absurdo”, desabafou Francisco, recordando de um tempo em que a própria comunidade resolvia os conflitos. “Quando eu era mais novo, até uns 20 anos, a gente não via indígena preso. Era a própria comunidade que resolvia. Não tinha polícia, mas tinha liderança.”
Ele lembrou o caso de um jovem de 18 anos de sua região. “Tomaram cachaça e ele flechou o tio, que começou a briga. Ele não aguentou, pegou a flecha e acertou o tio. O tio queria que ele fosse preso. Mas eu disse: ‘Você também está errado’. Em vez de cadeia, conseguimos que ele cumprisse a pena no [lago] Caracaranã. Eu mesmo organizei isso com a liderança”, lembrou.
Esse sistema de justiça indígena, explica Francisco, precisa ser fortalecido. “A prisão acaba com a pessoa. É preciso que as autoridades respeitem nosso jeito de conduzir os conflitos. O próprio povo sabe punir quem está errado”, disse.
Outro grave problema apontado pelo indígena é o crescente domínio das facções criminosas nas comunidades indígenas. “A maioria hoje está nas mãos da facção. Por isso muitos se calam. A facção está em todas as comunidades. A polícia sabe quem são os chefes, mas não prende. Pega um indígena fraquinho e manda para a cadeia, mas deixa o chefe solto. É aí que a gente vê como o sistema compactua com a facção”, explicou.
Com voz embargada, Francisco faz um apelo urgente: “Que respeitem nossos direitos. Que o povo indígena possa pagar sua pena nas comunidades. Se a pessoa cometeu um crime em uma região, e não pode mais ficar lá, pode ir para outra. A comunidade vai acolher, e ele vai trabalhar, não vai ficar à toa. Vai participar dos trabalhos. É isso que precisa voltar”.
Garantia de direitos


Foto 1- Cerimônia de lançamento do mutirão prisional indígena no Tribunal de Justiça de Roraima (Foto: TJRR); Foto 2- O juiz auxiliar da Presidência e Coordenador do DMF, Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi, acompanhado do Desembargador Almiro Padilha e do Juiz Renato Albuquerque (Foto: SEJUC RR).
A história de Francisco, assim como outras, reforça a importância do mutirão prisional indígena proposto por instituições do sistema de Justiça e organizações da sociedade civil. O advogado Ivo Macuxi, assessor jurídico da Associação dos Povos Indígenas da Terra São Marcos, avalia que “é um trabalho muito importante para garantir os direitos humanos dos povos indígenas no sistema prisional, até porque existem resoluções do Conselho Nacional de Justiça [CNJ], de 2019, que garantem e reconhecem a importância de os tribunais e as instituições que trabalham com a Justiça em garantir os direitos indígenas que estão no sistema prisional. Mas aí é uma dificuldade muito grande de implementar isso”, avaliou.
A expectativa é que o levantamento de dados possibilite a elaboração de um relatório robusto, capaz de pressionar pelo cumprimento das políticas públicas e pela criação de novas diretrizes que respeitem os direitos humanos da população carcerária indígena.
Após a primeira fase do mutirão prisional indígena em Boa Vista, a equipe se prepara para a próxima etapa em Rorainópolis, município do Sul de Roraima. As visitas resultarão em uma análise detalhada de questionários, processos judiciais e possíveis omissões ou falhas do sistema. Um dos pontos que chama a atenção é a severidade das penas aplicadas aos indígenas.
Cada instituição do mutirão prisional indígena terá um papel. Os pesquisadores da UFRR irão produzir estudos acadêmicos a partir das entrevistas, enquanto a DPE-RR avaliará os processos e identificará medidas jurídicas que ainda podem ser tomadas em favor dos detentos. O TJRR acessará informações para revisar situações de possível violação de direitos.
A professora da UFRR e pesquisadora do tema, Priscilla Cardoso Rodrigues, coordenadora da frente “Indígenas no Sistema Prisional e de Justiça de Boa Vista”, explica que o mutirão surge a partir de um diálogo entre instituições que já vinham atuando em frentes relacionadas aos direitos dos povos indígenas.
“A ideia é realizar um diagnóstico mais realista sobre a situação dos indígenas no sistema prisional do estado. No caso da UFRR, a demanda vem da execução de um projeto do Ministério dos Direitos Humanos, que tem duas frentes: uma voltada para saúde de mulheres e crianças Yanomami e outra que trata da situação dos indígenas no sistema prisional, que é a frente que eu coordeno”, relata.
Priscilla detalha que cada instituição trouxe suas próprias necessidades para o diálogo. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF) do Tribunal de Justiça buscava avançar na implementação da Resolução 287/2019 do CNJ, que estabelece um tratamento penal diferenciado aos indígenas. A DPE-RR procurava formas de assegurar a esses indivíduos uma defesa que respeitasse seus direitos culturais e individuais. A Sejuc tinha o desafio de garantir o cumprimento dessas diretrizes dentro das unidades prisionais sob sua gestão.
“É essencial que as entrevistas com os indígenas privados de liberdade sejam feitas com uma formação mínima em direito e antropologia, para que se compreenda não só o crime em si, mas todo o contexto social, cultural e de direitos envolvidos”, detalha Priscilla.
Ouvir para transformar

Para coletar informações de forma sistemática, as instituições elaboram em conjunto um questionário padronizado. Esse instrumento foi aplicado em três unidades prisionais durante o mutirão prisional indígena: a Cadeia Pública Masculina, a Cadeia Pública Feminina e a PAMC. A próxima etapa prevê visitas ao presídio de Rorainópolis e ao Centro de Progressão Penitenciária.
Durante as entrevistas, a equipe também identificou indígenas de origem venezuelana. A professora Priscilla Cardoso ressalta, contudo, que “muitos indígenas originários da Venezuela acabam sendo classificados apenas como imigrantes e, com isso, invisibilizados enquanto sujeitos de direitos indígenas”, alerta.
Para Priscilla, a iniciativa desenvolvida em Roraima possui um grande potencial de inspirar ações semelhantes em outras regiões do país. “Estamos construindo algo inovador, que poderá servir de referência nacional”, conclui.
O questionário aplicado durante o mutirão prisional indígena foi coordenado pelo antropólogo Emerson da Silva Rodrigues, integrante do Observatório dos Direitos Humanos da UFRR. Ele reforça que a ação visa dar visibilidade a uma população historicamente silenciada. “É um modelo de atuação que pode subsidiar demandas reais dos povos indígenas privados de liberdade”, defende.
Emerson também direciona o olhar para o contexto histórico e geopolítico do encarceramento indígena na região de fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. “Esse processo de aprisionamento indígena começa ainda no período colonial, entre 1550 e 1625, na região do Orinoco, e continua nas Guianas com a instalação de colônias penais. No caso de Roraima, há registros desde o século XVII. Então, é fundamental entender o que está acontecendo hoje a partir dessa continuidade histórica de controle e repressão dos corpos indígenas”, analisa.
Segundo Rodrigues, iniciativas como a de Roraima são raras, e esta em particular se destaca como um possível modelo. “No Mato Grosso do Sul, houve um mutirão em 2003 e 2004, mas com outro formato. Aqui, o que temos é algo inédito: um protocolo construído por vários atores institucionais e acadêmicos, que pode servir de referência para outras regiões do país e até da América Latina”, afirma.
A reportagem solicitou da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) o número atualizado de presos indígenas no Brasil, mas até o fechamento desta reportagem não teve retorno. Por telefone, a assessoria informou que a pasta não teria previsão para responder.

Republique nossos conteúdos: Os textos, fotografias e vídeos produzidos pela equipe da agência Amazônia Real estão licenciados com uma Licença Creative Commons – Atribuição 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) e podem ser republicados na mídia: jornais impressos, revistas, sites, blogs, livros didáticos e de literatura; com o crédito do autor e da agência Amazônia Real. Fotografias cedidas ou produzidas por outros veículos e organizações não atendem a essa licença e precisam de autorização dos autores.
As informações apresentadas neste post foram reproduzidas do Site Amazônia Real e são de total responsabilidade do autor.
Ver post do Autor