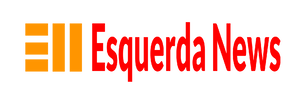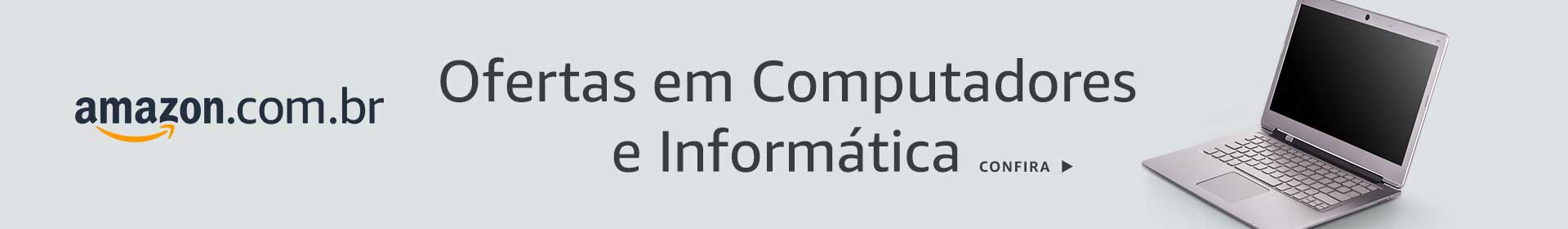Em 1977, Miguel Jorge assumiu a chefia de redação de O Estado de S. Paulo. Ficou no lugar por 10 anos. Daí em diante atuou no governo federal e na área empresarial, começando sua ascensão a partir da Autolatina. Nessa época, a sucursal amazônica, com seus 11 repórteres espalhados pela região foi desfeita. Mas ainda funcionava o escritório de Belém, com dois jornalistas: eu e meu irmão (falecido), que tínhamos então seis anos de “casa”.
Certo dia, informado por um amigo, soube que um repórter da sucursal do DF fora mandado por Miguel para fazer uma reportagem no Pará sobre disputa de terras. Liguei para Miguel e lhe disse que estávamos em condição de realizar o trabalho. Sem a existência formal de uma sucursal, continuávamos a cumprir qualquer pauta, principalmente sobre conflitos fundiários, uma das nossas “especialidades”.
Miguel não quis saber. Respondeu que não éramos donos da Amazônia e que ele, como maior autoridade na redação do jornal, podia decidir sobre a quem recorrer para a missão. Não discordei. Não éramos monopolistas amazônicos, mas nossas matérias sobre a região eram respeitadas e elogiadas. Havíamos até recebido um prêmio Esso por uma série de reportagens exatamente sobre o tema.
Irritado pela dura cobrança de um repórter de fim de mundo, Miguel reagiu com uma ordem categórica: “Se não gostou, demita-se”. Respondi no mesmo diapasão: “Demita-me se for capaz”. Não foi. Fiquei onde estava até 1989, quando pedi demissão para iniciar a aventura do Jornal Pessoal. Mantê-lo em atividade durante 32 anos me custaria muito maro. Pago o preço, agora que o JP não existe mais, em longas e pesadas prestações.
Essa história (bem documentada) me veio à memória ao ler a última edição do portal Jornalistas & Cia. A publicação apresenta os 100 mais admirados profissionais, escolhidos por sorteio de 30 mil votantes. A Amazônia entrou na relação com duas profissionais que fizeram sua opção inteiramente dedicada à Amazônia, criando uma base de atuação: Kátia Brasil, com uma história de mais de 30 anos atuando na Amazônia e cofundadora da agência Amazônia Real, com sede em Manaus, e Eliana Brum, que se transferiu do “Sul” para Altamira, ao lado da hidrelétrica de Belo Monte e dos seus efeitos. O índice de renovação dos mais admirados foi recorde, conforme a informação de Jornalistas & Cia.
Pergunto-me: não sobreviveram outros jornalistas locais na cobertura atual dos temas amazônicos? É preciso sempre recorrer ao “enviado especial”, como sendo quase um correspondente de guerra, sujeito a se tornar vítima da selvageria da fronteira?
Na época em que foi concebida, em 1975, a sucursal não ia ser uma instância meramente administrativa e burocrática. Cada repórter instalado em uma capital teria que enviar pautas, sobretudo de viagens, e se embrenhar pela “jungle”, às vezes solitariamente. Iam e voltavam com uma matéria forte. Ela era editada e enviada para a sede do jornal, num tamanho previamente estabelecido, mas com total liberdade de apuração. Não seria mais modificada.
Contrastando com a realização da COP 30, que deveria apontar a importância da Amazônia em mudanças climáticas, registradas ao redor do planeta, a imprensa brasileira reduziu suas pautas à eventual viagem de repórteres especiais de outras regiões. A Amazônia, representando 60% do território nacional, existe nesse compasso irregular, de realidade que está sempre começando – e acabando.
A imagem que abre este artigo mostra Lúcio Flávio Pinto (à esquerda), Saulo Petean (chefe do posto da Funai na Terra Indígena Mãe Maria) e indígenas do povo Gavião, a 30 quilômetros de Marabá, Pará, em 1976. Imagem do acervo pessoal de Lúcio Flávio Pinto.
As informações apresentadas neste post foram reproduzidas do Site Amazônia Real e são de total responsabilidade do autor.
Ver post do Autor