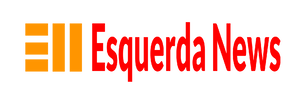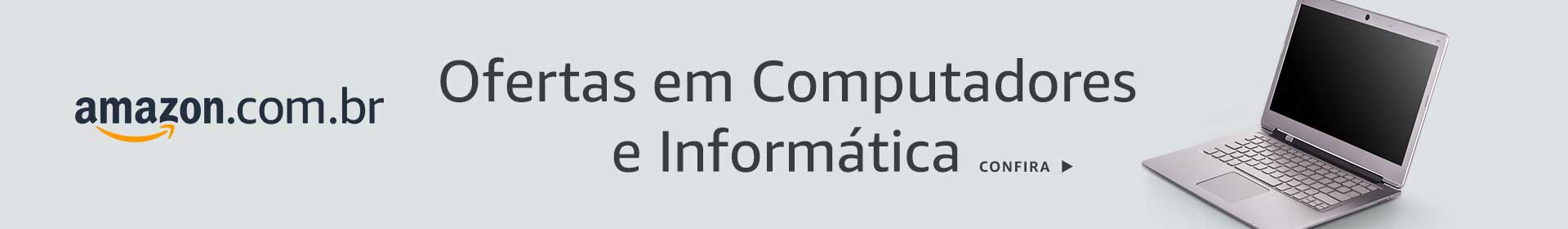As violações foram tema da III Marcha das Mulheres Indígenas, em Brasília. Mas, apesar das mobilizações, o crime persiste. Jovem de 15 anos, da etnia Karipuna, foi estuprada e assassinada no Amapá por um homem não indígena. Morte brutal ocorreu poucos dias após o evento na capital federal, que contou com a presença de lideranças e ministras. O registro acima foi feito durante a marcha das mulheres indígenas no dia 13 de setembro, em Brasília (Foto: @webertdacruz/ Cobertura Colaborativa).
Manaus (AM) – Menos de uma semana após a III Marcha das Mulheres Indígenas, quando representantes de diferentes povos, biomas, regiões e territórios do Brasil e do mundo caminharam juntas pelas ruas de Brasília, um caso de extrema brutalidade mostra que a violência de gênero é uma dor que persiste. As mulheres indígenas se reuniram na capital federal de 11 a 13 de setembro e, neste domingo (17), a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) comunicou o assassinato de Maria Clara Batista, 15 anos, da etnia Karipuna. Ela foi vítima de violência sexual na cidade de Oiapoque, no Amapá.
No encerramento da III Marcha, as mulheres indígenas caminharam em direção ao Congresso Nacional para reivindicar o fim da violência contra os seus corpos e territórios. No mesmo dia em que caminhavam, Maria Clara foi estuprada. A jovem foi internada no Hospital Estadual de Oiapoque e, em seguida, transferida para uma UTI em Caiena, na Guiana Francesa. Mas não resistiu aos traumas e morreu na madrugada de domingo.
Após analisar câmeras de segurança, a polícias Civil e Militar prenderam em flagrante um pescador não indígena de 45 anos. Segundo o governo do Amapá, ele teve a prisão preventiva decretada e está à disposição da Justiça Estadual e Federal. O homem é acusado de outro estupro, ocorrido ano passado, e também responde por furto.
Segundo a Funai, Maria Clara foi violentada e afogada na lama, em uma área de pântano. Após o crime, ela conseguiu deixar o local e procurar ajuda. Apesar do atendimento médico, ela morreu vítima de uma infecção pulmonar causada pela ingestão de lama.
“O crime que tirou a vida de Maria Clara é um reflexo de uma sociedade que ainda enfrenta problemas como a intolerância, a desigualdade de gênero e a violência contra as mulheres, especialmente as indígenas. Este ato hediondo não afeta apenas a família enlutada, mas também todas as comunidades indígenas do Oiapoque, que clamam por justiça e proteção”, afirma a Funai.
A fundação se comprometeu a tomar medidas concretas para evitar que outras mulheres indígenas se tornem vítimas de violência sexual. “A Funai está fortalecendo sua atuação na promoção de políticas de prevenção e proteção, bem como no apoio às vítimas de violência de gênero, com a colaboração de organizações da sociedade civil, do sistema de Justiça e de outras instituições governamentais. A fundação reitera seu compromisso em enfrentar essa grave questão, enfatizando que todos os esforços serão empreendidos para garantir a justiça e a segurança das mulheres indígenas”.
Em nota, o Conselho de Caciques dos Povos Indígenas de Oiapoque prestou solidariedade aos familiares e denunciou que Maria Clara morreu “após ser vítima de um crime bárbaro onde pedimos justiça”.
O governo do Amapá informou que fará o processo de traslado do corpo até Estado. A Secretaria dos Povos Indígenas está em Oiapoque prestando assistência à família.
“Mais um crime bárbaro de feminicídio que deixa todo o povo amapaense consternado. O governo do Amapá se solidariza com a família, o povo Karipuna e todos os indígenas neste momento de extrema tristeza”, se manifestou o governo, também em nota.
Oito mil mulheres
Acampadas na capital do país desde o dia 11 de setembro, mais de oito mil mulheres debateram, além do combate à violência, novos meios de incidência em espaços políticos de decisão, preservação da biodiversidade, acesso à educação e emergência climática, além da luta pela demarcação de suas terras e contra a tese do marco temporal.
Sob o tema “Mulheres Biomas em Defesa da Biodiversidade pelas Raízes Ancestrais”, a programação do evento incluiu painéis, trabalhos em grupo, manifestações culturais e o desfile das Originárias da Terra. As mulheres discutiram também a Recomendação Geral 39 do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres (CEDAW, na sigla em inglês), da Organização das Nações Unidas. Aprovada no ano passado, a recomendação apresenta orientações para governos sobre medidas legislativas e políticas públicas para garantir os direitos das mulheres e meninas indígenas.
A marcha, organizada pela Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga) e pelas Mulheres Biomas de todo o Brasil, foi marcada pela presença de lideranças indígenas femininas de expressão na política brasileira, como a deputada federal Célia Xakriabá (Psol-MG), a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e a presidente da Funai, Joenia Wapichana. Foi a primeira vez que a mobilização recebeu apoio do governo federal desde a primeira edição, em 2019, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Agora temos um governo onde não tivemos que passar por spray de pimenta e perseguições durante a nossa marcha. O evento foi tranquilo. No dia 13 pela manhã fomos ao Congresso Nacional de forma tranquila. Foi diferente do cenário que passamos nos últimos quatro anos com o governo Bolsonaro”, disse a cofundadora da Anmiga e uma das organizadoras do evento, Puyr Tembé. Nas duas edições passadas da marcha, as mulheres indígenas sofreram ameaças, ataques e perseguições de bolsonaristas.
A mobilização também reuniu mulheres de 18 povos de outros países, representando os movimentos indígenas da Malásia, Uganda, Estados Unidos, Peru, Quênia, Nova Zelândia, Bangladesh, Rússia, Indonésia, Guatemala e Finlândia. Um lembrete poderoso de que a luta pelos direitos das mulheres indígenas não conhece fronteiras geográficas.
Pelo fim da violência de gênero

Durante os três dias de articulação, as mulheres indígenas apelaram coletivamente pelo fim da violência de gênero, considerado um problema permanente em suas vidas. “No centro dessa marcha está um poderoso apelo por direitos iguais para as mulheres indígenas. Essas mulheres enfrentaram inúmeros desafios e injustiças ao longo de suas vidas, mas se recusam a continuar sendo silenciadas. Defendemos o fim da violência contra as mulheres indígenas, um problema generalizado que tem atormentado nossas comunidades há gerações”, disse a Anmiga.
No encerramento do evento, foi apresentada a carta “Documento Final das Originárias”, com proposições e ideias elaboradas pelas indígenas e entregue aos ministérios dos Povos Indígenas e das Mulheres. Na carta, elas denunciaram a violência e a repressão que levam lideranças indígenas femininas a interromperem seus trabalhos políticos. “Violência sexual e estupro, presença e circulação de homens não indígenas nos territórios, eles trazem drogas e violências”, manifestaram.
Para elas, o principal desafio é a falta de escuta do Estado. Por isso, cobraram do governo que as mulheres indígenas estejam à frente das instituições que cuidam das políticas públicas de combate à violência de gênero. “As delegacias não sabem como acolher e nos ouvir. As políticas de gênero anunciadas pelo governo não nos atendem. As secretarias de Mulheres dos estados e municípios precisam ter mulheres indígenas elaborando políticas públicas para enfrentar a violência. Precisamos ocupar e aldeiar todos os espaços de tomadas de decisões na sociedade. Criar nossas organizações associações de mulheres biomas para nos unirmos e lutarmos juntas”, disseram na carta.
Elas também querem realizar uma conferência nacional sobre violência de gênero contra mulheres indígenas. “Estamos sofrendo com a invasão dos nossos territórios, com os madeireiros, com os mineradores, com os fazendeiros. Nossas terras e nossos rios são envenenados, assim como os bichos e as plantas. As mulheres indígenas adoecem com os alimentos contaminados. Nossa luta é pela permanência nos nossos territórios”.
Espaço na Câmara

Uma sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados, em homenagem à III Marcha das Mulheres Indígenas, foi realizada no dia 11. “Estamos aqui para reverter todo o mal que foi feito, para contribuir para a reconstrução do nosso país”, disse a presidente da Funai, Joenia Wapichana. Durante a cerimônia, ela cobrou a presença de mulheres indígenas em cargos políticos e em espaços de tomada de decisões importantes para os povos indígenas.
“As mulheres indígenas são parte da sociedade brasileira, mas está faltando essas mulheres ocupando espaços, ocupando cargos, participando da tomada de decisões. Fomos chamadas à responsabilidade no governo Lula. Quando o orçamento da Funai estiver aqui para ser votado, precisa ser apoiado. São recursos para demarcação de terras indígenas, projetos de gestão territorial e de combate à violência contra mulheres indígenas”.
Violação de direitos

No dia 12 de setembro, a Amazônia Real publicou uma reportagem sobre a denúncia de racismo feita por mulheres indígenas das etnias Aymara, Borum Kren, Kayapó, Mura e Tupinambá. Elas foram acusadas pela diretora Ana Laura Camacho de invadir a Escola Estadual Francisco Desmorest Passos, localizada no distrito de Nazaré, em Porto Velho, capital de Rondônia.
Proibidas de ir ao local para promover uma atividade pedagógica relacionada ao Dia Internacional da Mulher Indígena e ao Dia da Amazônia, as mulheres se manifestaram e fizeram uma demarcação simbólica do território ancestral Mura, onde hoje fica a escola, mas a diretora acusou-as de invadir o espaço e assustar os alunos. O caso foi denunciado pelas indígenas no Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (Sintero). A liderança Aline Negrenhtabare Lopes Kayapó registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de Porto Velho pelo crime de racismo.
Em entrevista à reportagem, a educadora e escritora Márcia Mura, conhecida como Tanãmak na língua do seu povo, afirmou estar sofrendo intimidações para sair da comunidade de Nazaré há pelo menos dois anos. Márcia Mura foi removida da Escola Estadual Francisco Desmorest Passos em 2021, após 20 anos atuando como professora na rede estadual de Rondônia. O relatório enviado à Seduc na época indicou que um dos motivos para a remoção foi a “insistência” em ensinar conteúdos de temática indígena para os alunos.
A educadora diz que, apesar do episódio recente de racismo e da perseguição histórica que as mulheres Mura sofrem na região do baixo Madeira, elas ficaram fortalecidas para a marcha em Brasília a partir do encontro entre mulheres Mura de Roraima e do Amazonas. “Foi muito importante que essas mulheres Mura do Amazonas se deslocassem até Porto Velho e depois até Nazaré, nas margens do rio Madeira, onde se fortaleceram culturalmente e espiritualmente durante cinco dias contra o etnocídio Mura sofrido naquela região”, disse. “Conseguimos nos encontrar com outras mulheres Mura de diferentes territórios na marcha, fizemos um único grito de resistência Mura. Isso foi importante para poder visibilizar a luta que estamos fazendo nos nossos territórios. Embora a gente esteja em territórios diferentes, conseguimos nos encontrar e gritar juntas”.
São Gabriel da Cachoeira

No dia 13 de setembro, durante a marcha, foi lançado o relatório “Tecendo a vida sob braços fortes – Caracterização da violência contra mulheres na cidade de São Gabriel da Cachoeira (AM)”. O estudo surgiu de uma série de iniciativas desenvolvidas por meio da parceria entre o Observatório da Violência de Gênero no Amazonas da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Coletivo de Pesquisa em Antropologia, Arte e Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), Departamento de Mulheres Indígenas da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) e Instituto Socioambiental (ISA).
Segundo a professora Flávia Melo, antropóloga e criadora do Observatório da Violência de Gênero da Ufam, o relatório surgiu da necessidade de responder às constantes queixas de mulheres indígenas a respeito das violências que as afligem em São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas, na região do Alto Rio Negro, considerada a cidade mais indígena do Brasil.
“Nós sabemos que existe uma preocupação muito presente entre as mulheres indígenas e no movimento indígena com essas violências, mas existe também uma dificuldade muito grande de entender e de acessar as informações sobre o assunto, então esse relatório nasce dessa preocupação”, afirmou.
A coleta dos dados da pesquisa foi feita em duas etapas, nos anos de 2015 e 2020. Livros de ocorrência e formulários datados do período de 2010 a 2019 serviram de fonte. “A nossa preocupação era justamente suprir uma lacuna que existe no Estado do Amazonas sobre o perfil da violência de gênero, principalmente aquela que ocorre no interior do Estado, fora da capital”.
O estudo mostrou que, entre os anos de 2010 e 2019, 40% das mulheres da cidade foram vítimas de violência doméstica. A pesquisa destacou que os tipos mais frequentes de crimes cometidos contra as mulheres de São Gabriel da Cachoeira coincidem com o padrão brasileiro de crimes contra mulheres, destacando-se as violências física (lesões corporais), psicológica (ameaças) e moral (calúnias e difamações).
Para a professora, a ausência de dados pessoais básicos, como idade e nacionalidade, especialmente das vítimas, nos registros policiais, revela um grave problema de subnotificação da violência de gênero.
“Esse é um dado bastante preocupante porque em todo o estado do Amazonas existe uma parcela de informações não preenchidas nos boletins de ocorrência em geral. No caso de São Gabriel da Cachoeira, chama a atenção a ausência de informações das próprias vítimas. Na maioria esmagadora das vezes é a própria mulher vítima de violência que pessoalmente chega à delegacia e presta informações para a realização deste boletim, então isso pode nos ajudar a pensar que circunstâncias levam a essas ausências de informação e uma delas tem a ver justamente com a negligência dos agentes de Estado”.
Ela afirma que a ausência de informações impede os cruzamentos de dados que dariam um conhecimento mais preciso sobre a situação da violência contra as mulheres. Do total das vítimas registradas entre os anos de 2010 a 2019, 63,9% (1455) são naturais do Amazonas e 98,8% (2250) não tiveram a etnia ou raça informadas.
“Nós estamos em um município brasileiro com o maior percentual de população indígena do Brasil, então é possível supor que uma parcela significativa das mulheres que recorrem à delegacia sejam mulheres indígenas, mas nós não podemos afirmar estatisticamente porque os boletins policiais não informam o pertencimento étnico. Então a lacuna dessas informações nos coloca desafios como acompanhar e controlar o trabalho dos agentes de estado responsáveis por registros desse tipo de informação e pensar em maneiras mais apropriadas de produzir informações que não reiterem a invisibilidade da violência das mulheres, principalmente das mulheres indígenas”, declarou a pesquisadora.
Medidas de proteção às mulheres indígenas
Durante a sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados, a deputada Célia Xakriabá protocolou um projeto de lei para combater a violência. O PL 4381/23 trata dos “procedimentos a serem adotados pelas delegacias de polícia e demais órgãos responsáveis para o atendimento de mulheres indígenas vítimas de violências, nas hipóteses de medidas protetivas de urgência previstas”.
A deputada, que é presidente da Comissão dos Povos Originários, apresentou a proposta em duas línguas indígenas (Guarani-Kaiowá e Akwen), além do português. “Somos 500 mulheres protocolando esse projeto de lei. Somos mulheres que resistem e chegamos ao Parlamento para reflorestar”, disse. “Mulheres indígenas são assassinadas enquanto falamos nesta tribuna. Queremos que esse projeto de lei seja uma resposta para as mulheres indígenas que foram silenciadas pela violência”.
No encerramento da marcha, as ministras Sônia Guajajara e Cida Gonçalves, dos ministérios dos Povos Indígenas e das Mulheres, assinaram um conjunto de atos para implementação de políticas públicas de proteção e fortalecimento das mulheres indígenas em seus territórios.

O primeiro desses atos é a criação de um grupo de trabalho técnico para fomentar políticas públicas para mulheres indígenas, por meio do Projeto Guardiãs. A segunda ação é a implementação da primeira Casa da Mulher Brasileira com enfoque no atendimento a indígenas, em Dourados, no Mato Grosso. A iniciativa já tinha sido antecipada em agosto, durante o 1º Seminário Regional Diálogos para Prevenção de Violência contra as Mulheres Indígenas Kaiowá Guarani e Terena.
Também foi anunciada a implementação de Casas da Mulher Indígena em cada um dos seis biomas brasileiros (Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado, Pampa, Pantanal e Amazônia).
Durante a assinatura dos atos, Sonia Guajajara lembrou que as mulheres indígenas enfrentam diversas formas de violência, inclusive política. Ela chamou atenção para o caso da deputada Célia Xakriabá, que corre risco de cassação por ter se posicionado contra a tese do marco temporal. “Isso faz com que muitas mulheres até desistam de fazer essa disputa para ocupar esses lugares, porque realmente há uma hostilidade contra nós. Precisamos fortalecer candidaturas e nossa mobilização nacional de mulheres indígenas”.
A liderança Puyr Tembé considera que é relevante a presença das ministras na marcha, pois foi a primeira vez que houve conexão do governo com o movimento das mulheres indígenas. “Todos esses ministérios dialogaram com a gente e é inovador, porque nesses últimos quatro anos não tivemos isso. Quando a discussão sai do ministério e vai para base, conseguimos pautar o que a gente quer enquanto povos indígenas”, manifestou. “Agora é seguir na fé, porque ainda temos o marco temporal para encarar”.
As informações apresentadas neste post foram reproduzidas do Site Amazônia Real e são de total responsabilidade do autor.
Ver post do Autor