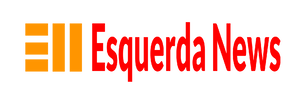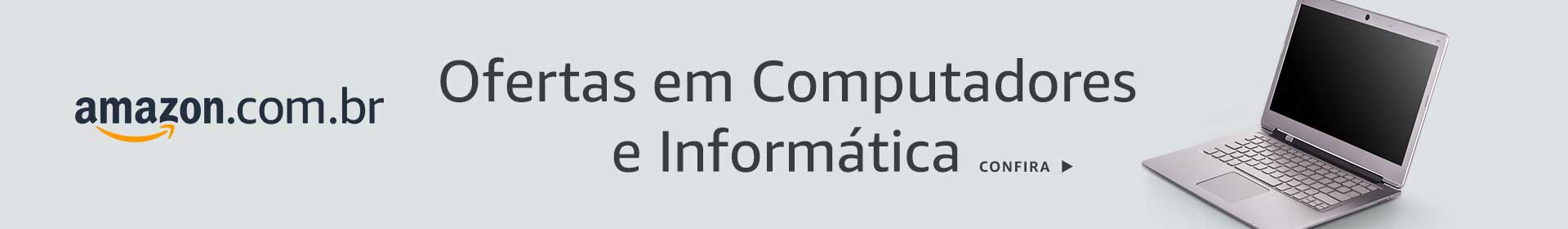Na transição dos séculos XX e XXI, escrevi muitas matérias denunciando a exploração destrutiva e a ameaça de desaparecimento do mogno na Amazônia. Por causa dessas matérias fui processado judicialmente pelo empresário Cecílio do Rego Almeida, que me processou na justiça do Pará três vezes. O dono da Construtora C. R. Almeida (falecido posteriormente) se utilizava de uma grosseira grilagem de terra para a se apropriar da maior quantidade de mogno já extraída no mundo.
Também me processou seu cúmplice, o madeireiro Wandeir dos Reis Costa, com dois processos. E os desembargadores João Alberto Paiva e Maria do Céu Cabral Duarte, que decidiram em favor do grileiro, cada um deles com dois processos. Acabei sofrendo uma condenação, mas felizmente o Ministério Público Federal conseguiu anular os registros fraudulentos que davam ao empreiteiro o domínio de sete milhões de hectares, devolvendo as terras ao patrimônio público, do qual foram sequestradas pelas quadrilhas de grileiros.
Volto a essa época difícil e conflagrada para tentar recuperar para o domínio da sociedade uma história que parece lamentavelmente esquecida.
________________
Os presidentes dos Estados Unidos têm utilizado, há várias décadas, móveis de mogno na Casa Branca, em Washington. A marinha inglesa, uma das mais eficientes de todos os tempos, também se beneficiou das qualidades físicas e químicas da madeira. Qualquer autor de thriller sabe que, se descrever como sendo de mogno aquela escrivaninha sobre a qual o personagem se debruça, lhe dará uma aparência de nobreza.
O mogno é uma árvore bonita de se ver na mata, destacando-se por seu porte esbelto, sua altura (de 30 a 40 metros) e sua cor. Impressiona tanto ou mais ainda quando se transforma num móvel ou num painel: é leve e ao mesmo tempo resistente, sólida e maleável, pode durar séculos, indiferentemente aos insetos e aos maus tratos do homem, e cativar por sua cor natural, melhor do que qualquer outra cor que o computador imaginar como sucedâneo.
Em algumas décadas mais, entretanto, o mogno poderá se confinar ao terreno da ficção. Mesmo agora, já é difícil localizar árvores de mogno na floresta nativa. O mogno, a mais bela e mais valiosa madeira da Amazônia, região que concentra 56% das florestas tropicais do planeta, está acabando. Já acabou no sul do Pará, onde sua presença era de 5 a 10 vezes maior do que nas áreas onde a madeira está sendo agora caçada, cortada e vendida como se fosse ouro (na verdade, o ouro verde vale mais do que o ouro amarelo).
É no Acre que se ainda se encontram os remanescentes. Na área de influência de Rio Maria, no sul do Pará, a densidade podia chegar a 11 árvores por hectare. Hoje, mogno é conversa para boi dormir ou para choro nessa região. No princípio da sua ocupação, muito mogno deve ter sido destruído nas queimadas. O que os pioneiros queriam mesmo era formar pastagens para seu gado, incumbido de, ao menor custo (monetariamente falando), “amansar a terra”, na tal filosofia ditada pela pata bovina (em sentido literal e figurado).
Depois, quando a madeira foi usada como reforço de capital para a execução do empreendimento ainda prioritário, o “projeto agropecuário” subsidiado pelo governo federal, muito mogno foi extraído, mas à custa da destruição de muitas outras árvores de menor valor. Por um ou outro caminho, dos anos 1960 aos 80, o vale do Araguaia-Tocantins, na busca de um “modelo de ocupação”, destruiu uma fabulosa mina de madeira.
Ainda há alguma iniciativa de plantio da árvore, mas quem a conhece intimamente descrê dos resultados, exceto os associados ao mogno africano, um estranho na hileia amazônica, agora intensamente plantado. Como aconteceu na longa farra da Sudam, extinta numa lama de corrupção, com criminosos desvios de recursos públicos para enriquecimento ilícito de empresários, políticos e burocratas, é mais uma placa para agradar inglês.
Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente Amazônico, em 2001 (a estatística que tenho à mão), o Brasil produziu aproximadamente 5,7 milhões de metros cúbicos serrados de mogno. Pelo menos quatro milhões foram exportados, uns 75% do total para os Estados Unidos e a Inglaterra. Essa exploração representou algo bem perto de 4 bilhões de dólares em faturamento, considerando-se o preço médio histórico, de US$ 700 o metro cúbico. Pouco depois, os valores variavam entre US$ 1,6 mil o m3, no mercado interno, e US$ 2,5 mil, no exterior, segundo a tabela do Ibama. Beneficiado, porém, cada m3 podia ir parar em US$ 8 mil, mais rentá vel do que o ouro.
A garimpagem de mogno
A febre do mogno foi uma variedade vegetal da obsessão que provocou as incríveis ondas de garimpagem. Por serem mais convencionais, epopeias como a de Serra Pelada atraíram mais atenção – e espanto – da opinião pública. O que aconteceu em tão pouco tempo com o mogno, uma das mais valiosas madeiras da história da humanidade, tem significado ainda mais profundo do que a maioria dos booms auríferos. Só não teve o mesmo impacto.
Ao seu modo, a televisão desempenhou mais satisfatoriamente uma função que milhares de artigos escritos não realizaram: provocar o interesse da nação para um drama muito grave. Teve impacto, na primeira década deste século, reportagem da TV Globo exibindo para todo país as imagens e as informações sobre o que foi classificado como “a maior apreensão de madeira da história do Brasil”.
Provavelmente por ser então neófita no assunto, a Globo não sustentou a reportagem em informações checadas ou corretas, mas as imagens supriram essa deficiência. Foram exibidas imagens patéticas, como as enormes jangadas, formadas por milhares de toras de madeira, que se tornaram rotineiras na área mais rica depois (e já bem abaixo) do Araguaia, a da Terra do Meio, entre os rios Xingu e Iriri, no Pará.
Somos contemporâneos da extinção do mogno, impotentes para reverter o mal que temos causado, a partir de uma presumível dádiva divina, na forma das sementes dessa árvore excepcional.
Os índios, vítimas dos exploradores – e do Estado
Em escala menor de utilização, os parentes do mesmo gênero da árvore brasileira na América Central e Caribe já não existem mais. A pressão sobre as últimas concentrações, na Amazônia latino-americana, mas sobretudo na área predominante do Brasil, se tornou um autêntico caso de polícia. A esmagadora maioria das árvores exibidas foi extraída dentro de reservas indígenas, principalmente na dos famosos kayapós.
Dessa vez, não através de invasão das reservas, mas com a ajuda dos próprios índios. O que eles provavelmente ganharam com sua colaboração representava 150 vezes menos do que faturava o agente na ponta da linha de comercialização, nos Estados Unidos principalmente.
Os índios alegavam, em sua defesa, que não tinham outra fonte de renda com a ruína da Funai e a evaporação da política indigenista pública, que se desmanchou no ar. Seriam os restos de uma categoria primitiva a ser colocada sob a lápide da história, no entendimento de um sociólogo da modernização (e com poder de transformar em fatos suas ideias, como presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, antecessor de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, do PT). E que precisam se vestir, comer e beber, por seus próprios meios, os que eram possíveis diante do descalabro estatal diante da “questão indígena”, passando ainda por Michel T emer, Jair Bolsonaro e, de novo, Lula da Silva (cujas iniciativas e discursos progressistas são contraditados pela continuidade da tragédia yanomami).
Com muitas boas razões pode-se construir uma tragédia, como a do mogno. Ninguém vai para o inferno, mas nem assim o mal deixa de se consumar. Gênio, Dante colocou mais gente no purgatório do que no inferno e no paraíso da sua Divina Comédia.
Contra a posição do Brasil, o mogno foi incluído, em um encontro de amplitude mundial realizado em Santiago do Chile, no anexo II da convenção da Cites. Significava que a exploração e a comercialização da espécie estariam sujeitas ao controle não apenas do governo nacional, mas também dos outros países que integram o colegiado, de exportadores e importadores, com a aplicação das normas existentes a respeito.
O governo brasileiro, o mais interessado no assunto, por ser então o maior produtor e vendedor de mogno no mundo, considerou dispensável apertar o controle sobre a espécie, que podia passar para o Anexo I, das espécies em extinção. Garantia o governo do sociólogo FHC, que estava fazendo tudo que era possível para acabar com a exploração ilegal e predatória da madeira.
Não era exatamente a verdade, ainda que pudesse ser reconhecido o decidido esforço oficial a respeito. Ou a intenção, dantescamente falando.
Enquanto o Ibama e a Polícia Federal aprendiam alguns milhares de toras de mogno transportadas em jangadas pelo rio Xingu (a grande avenida aquática para a qual essas lúgubres embarcações convergiam de todos os pontos de drenagem da bacia que possuíam a espécie às suas margens), acreditava-se que no sul do país, com destaque para São Paulo, houvesse 35 mil metros cúbicos estocados.
Era madeira em ponto de bala para seguir para o exterior, se possível (com ganhos melhores), ou ter comercialização interna, se os mecanismos de controle de embarque internacional estivessem realmente azeitados e o contrabando fosse inviável.
O esforço endógeno, portanto, já não era mais suficiente. Ou não era o bastante a tempo de poder dar conta da selvageria da predação da espécie, em função do preço e da exaustão de outras fontes de abastecimento do ouro verde. Um controle internacional efetivo seria a última chance de sobrevivência para o mogno?
Quem pode ajudar a salvar a floresta?
Muitos nem queriam fazer então essa pergunta, mas ela precisava ser formulada e, acima de tudo, necessitava de uma resposta eficaz e urgente. No primeiro governo Lula, essa aliança teve um resultado inegavelmente positivo: projetou mundialmente o seringueiro Chico Mendes, acreano como a duplamente ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.
Ecoou internacionalmente a sua pregação em defesa do uso preferencial da floresta na Amazônia, e de um uso múltiplo, não apenas pelas formas convencionais, como a produção de madeira sólida. Esse entendimento estava subjacente à “Florestania”, uma concepção de desenvolvimento distinta da que se encontra em vigor ou predomina.
Mas essa aliança também superestimou o significado de experiências localizadas e de difícil disseminação, ignorando as especificidades do Acre. No Estado da ministra o uso dos recursos naturais era considerado mais “sustentável” do que nas demais unidades federativas da região, mas o Estado continuava a ser também o mais pobre da Amazônia.
A agenda ambiental dos próximos anos vai estar carregada: de temas, de impasses, de personagens, de conflitos, com a COP 30. Espera-se que, tendo o mérito de espantar a calmaria conveniente, o debate não se torne um desperdício de vitalidade ao se desviar pelas rotas rígidas dos dogmatismos e das verdades eternas, ou dos cavalos de Troia e dos cantos de sereias subitamente defensoras da natureza, mas de olho mesmo nos cifrões de plataformas verdes de todo tipo até momentos bem recentes. Hoje, quando se fala de mogno é considerado o mogno africano, não o amazônico.
A Amazônia, um presente da natureza para os brasileiros, precisa da inteligência, do bom senso, da coragem e da criatividade de todos que querem escrevê-la como a página do Gênesis delegada por Deus ao homem, na feliz imagem criada por Euclides da Cunha, um século atrás, quando a Amazônia ainda era um projeto de Éden. Isso, contudo, ela já não é mais. O que ainda poderá ser?
A foto que abre este artigo, mostra toras de madeiras empilhadadas no pátio de uma serraria no km 180 da BR-230, também conhecida como Rodovia Transamazônica (Foto: Bruno Kelly/Amazonia Real/08/08/2020).
As informações apresentadas neste post foram reproduzidas do Site Amazônia Real e são de total responsabilidade do autor.
Ver post do Autor