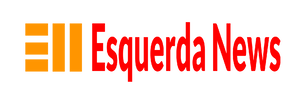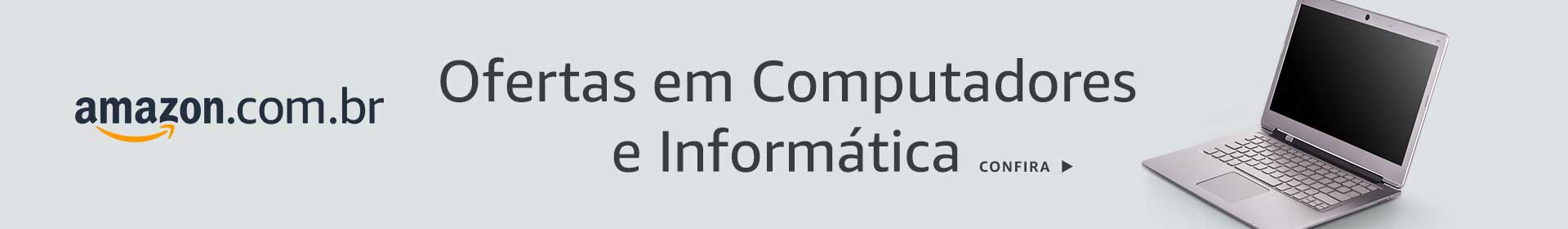No dia 28 de março, uma entrevista concedida pelo presidente da Guiana ao programa BBC’s Hard Talk tornou-se um dos assuntos mais comentados nos debates sobre mudanças climáticas, trazendo à tona a urgente questão do colonialismo cultural.
Em poucas palavras, o entrevistador Stephen Sackur, numa arrogante postura professoral, questionou o presidente Irfaan Ali a respeito do surpreendente crescimento econômico de nosso país vizinho no último ano. Depois de levantar a dúvida sobre se a existência de petróleo no subsolo da Guiana seria uma bênção ou uma maldição, indagou se o entrevistado achava correto agravar as mudanças climáticas com mais liberação de combustíveis fósseis no planeta.
Nesse ponto, foi interrompido pelo entrevistado, que lhe lançou outra pergunta: realmente o entrevistador (o Reino Unido) acha-se em condições em dar aulas sobre mudanças climáticas a ele (à Guiana)? E lembrou ao entrevistador que a esmagadora maioria das emissões é feita pelos países do Norte, enquanto a população da Guiana, com graves problemas de saúde e educação, preserva de pé uma floresta com extensão equivalente a todo o território da Inglaterra e da Escócia.
Aqui no Brasil, aproveitando um pouco do brilho da argumentação de Irfaan Ali, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, elevou o tom na defesa da prospecção de petróleo na foz do Amazonas, expondo publicamente suas divergências com o Ministério do Meio Ambiente. Trata-se de uma repetição da queda de braço ocorrida décadas atrás, no segundo governo Lula, entre Dilma Roussef e Marina Silva. Nesse contexto, o Greenpeace lança abaixo-assinado afirmando: “A queima de combustíveis fósseis agrava a crise climática. Se o Brasil quer se consolidar como uma liderança climática, apostar na abertura de novas fronteiras de exploração de petróleo em áreas sensíveis, como a Bacia da Foz do Amazonas, é uma contradição que vai custar caro!”. O ponto de exclamação ao final é tão enfático quanto um tapa na mesa dado por outro entrevistador, Richard Madeley, ao questionar o presidente da Guiana sobre o motivo pelo qual deveriam as gerações atuais pagar pelos erros de seus antepassados escravocratas, ironizando: afinal, o que quer o sul global, que a família real construa um palácio em Georgetown?
Todos estes episódios convergem para um mesmo dilema: a compatibilização entre a construção de uma verdadeira cidadania ambiental internacional e a observância do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, consagrado pela Convenção-Quadro das Mudanças Climáticas.
Qual deve ser a postura mais adequada de uma cidadania ambiental internacional diante do quadro planetário atual, enredado em questões como:
a) banalização da vida humana (a tragédia humanitária na Palestina, no Haiti e na Ucrânia são exemplos);
b) ressurgimento da OTAN como expressão militar decorridas mais de três décadas do fim do Pacto de Varsóvia;
c) aperfeiçoamento dos softwares de IA para criação de deep fake escudados no direito à liberdade de expressão;
d) aviltamento dos direitos trabalhistas duramente conquistados ao longo do Século XX e consagrados nas convenções da OIT?
Estariam os países desenvolvidos adotando políticas e medidas nacionais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e mitigar a mudança do clima? Transferindo recursos tecnológicos e financeiros para países em desenvolvimento? Auxiliando os países em desenvolvimento, particularmente os mais vulneráveis à mudança do clima, na implementação de ações de adaptação e na preparação para a mudança do clima, reduzindo os seus impactos?
O conceito de cidadania ambiental foi consagrado pela Declaração do Rio de Janeiro de 1992. Seu artigo 10, dispôs: “O melhor modo de tratar as questões ambientais é com a participação de todos os cidadãos interessados, em vários níveis. No plano nacional, toda pessoa deverá ter acesso adequado à informação sobre o ambiente de que dispõem as autoridades públicas (etc.)”.
Hoje, diante das mudanças climáticas, debate-se a ampliação desse conceito, para abarcar uma cidadania internacional ambiental.
Até o momento, o que vemos são sobretudo manifestações políticas, algumas de grande impacto midiático, como as do Cacique Raoni ou da sueca Greta Thunberg. Aqui, porém, estamos discutindo a extensão do conceito de cidadania no espaço e não o carisma e a representatividade de algumas importantes lideranças do movimento ambientalista.
É necessário, em primeiro lugar, compreender quais são os limites de atuação dos Estados Nacionais e dos Organismos Internacionais, para em seguida refletir sobre a superação de tais limites. Não, porém, uma superação generalizada, que implicaria, em última análise, na negação dos próprios Estados Nacionais e Organismos Internacionais, mas no tocante a um tema específico, que diz respeito à sobrevivência do próprio planeta – ou seja, às questões ambientais globais, como a diversidade biológica e as mudanças climáticas.
No plano da ordem econômica mundial, estes limites já foram superados de há muito pelo mercado, que hoje sequer aceita ser regulado por um organismo internacional criado para si próprio, a Organização Mundial do Comércio. Contudo, aqui não se está propondo a busca de respostas pela livre iniciativa, mas pela introdução de um conceito novo, o de cidadania internacional.
Como se sabe, em tese são muito diversos os limites de atuação das pessoas jurídicas de Direito Público Externo.
De um lado, temos os Estados Nacionais, cuja atuação não ultrapassa os limites da jurisdição nacional. Ou não deveria ultrapassar. Na madrugada de 20 dezembro de 1989, os Estados Unidos, sob o governo de George Bush pai, invadiram o Panamá para capturar o ditador Manuel Antonio Noriega, com a finalidade de levá-lo ante a justiça norte-americana para responder pelo crime de cumplicidade no tráfico internacional de drogas. A operação, denominada “Causa Justa”, deixou entre 500 e 4 mil mortos. Ficou evidente, nesse caso, a extrapolação dos limites da jurisdição estatal estadunidense.
No entanto, devemos permanecer no plano estrito do Direito Internacional Público, sob pena de nos perdermos em digressões políticas e lógica do militar e economicamente mais forte.
De acordo com a lição de Adriano Moreira,
“Os entes colectivos soberanos estão numa relação favorável para satisfazer interesses próprios, com o território, as águas fluviais ou marítimas, o espaço aéreo, os grupos étnicos e culturais, e assim por diante. Seja qual for a natureza e origem dos valores a que subordinemos a justiça dos seus interesses, é cada um que em primeiro lugar julga, afirma e defende essa justiça, recorrendo eventualmente à força que normalmente assume, nestes casos, a natureza de guerra aos opositores. Veremos os resultados da luta secular para institucionalizar a solução pacífica dos conflitos, mas aquela liberdade ou direito de fazer a guerra ainda é característica, social e politicamente, da comunidade internacional, independentemente dos avanços formais do direito internacional, hoje orientado no sentido da negação total da legitimidade da guerra”.[1]
Sob a perspectiva das Organizações Internacionais, os limites de atuação são ainda mais estreitos, uma vez que toda atuação depende do consenso dos Estados Nacionais membros dessas OIs, pelo menos, para fins de adesão a tratados e convenções multilaterais.
A questão que se levanta, assim, é: poderia uma Organização Internacional exigir o cumprimento dos termos de uma convenção ou tratado que não foi subscrito por determinado país? A resposta é evidente: nos termos do Direito Internacional Público, não.
Por isso, os limites de atuação das Organizações Internacionais – Nações Unidas, União Europeia, Mercosul, NAFTA, OMC – necessitam realmente ser superados, se a intenção é levar o Direito Ambiental a sério.
É possível, sem o auxílio de uma polícia estatal ou mundial, tratar de questões ambientais internacionais que afetem os interesses do mercado. E aqui utilizo o termo “mercado” para me referir especificamente às grandes corporações internacionais. Por exemplo, Shell, Exxon etc.
Para responder a esta questão, é necessário pontuar que a polícia em teocracias atuará em defesa da religião oficial; em ditaduras, fará o que o ditador estabelecer; num estado capitalista, promoverá a defesa do capital.
É preciso dimensionar os limites do Direito Internacional do Meio Ambiente. Tomemos uma convenção vigente no país, a Convenção de Viena de 1985 e o Protocolo de Montreal, para a Proteção da Camada de Ozônio. Essa Convenção é sempre lembrada como particularmente bem-sucedida pois sua meta, de suprimir a produção e o consumo do CFC (cloro-fluor-carbono) até 2000, foi alcançada. Não, porém, em razão da preocupação com a observância de uma convenção internacional, mas pelo simples motivo que a indústria descobriu técnicas e produtos mais eficientes e menos impactantes do que os CFCs utilizados, dentre outras finalidades, como propelentes de tinta spray, desodorantes, inseticidas etc. A solução veio do mercado. E o Direito Internacional apenas formalizou num texto escrito o que já era uma tendência de mercado.
Comparemos com a Convenção sobre Mudanças Climáticas, adotada na Rio/92. A CMC tem a meta de promover e cooperar para o desenvolvimento, aplicação e difusão, inclusive transferência, de tecnologias, práticas e processos que controlem, reduzam ou previnam as emissões antrópicas de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal em todos os setores pertinentes: de energia, transportes, indústria, agricultura, silvicultura e administração de resíduos.

A CMC visa a redução das emissões de carbono na atmosfera, meta que exige a substituição da matriz fóssil de combustíveis, responsável pela emissão de CO e CO2, bem como mudanças nos padrões alimentares, pela redução da produção de proteína animal, responsável pela emissão de CH4. As petroleiras e o agronegócio aceitam essa mudança urgente? Não! O mercado é incapaz de aceitar, ainda que em caráter excepcional, diante da emergência climática, a redução nos padrões de produção e consumo. Nesse sentido, o saudoso professor Guido Soares, conhecido por sua lhaneza e diplomacia, ao discorrer a respeito do Fórum de Siena, afirmava ser “irritante” a “sobranceria com que as companhias multinacionais se colocam em relação às normas do Direito Internacional”[2].
O mercado segue a racionalidade capitalista, Como aponta Elmar Altvater, esta é uma racionalidade das partes e não do todo. Na obra coletiva Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism, afirma que as vastas interdependências da teia da vida são desconsideradas e, assim, a racionalidade da modernidade capitalista só pode ser parcial. Neste esquema, interdependências não podem ser objeto de planejamento, não podem ser controladas. [3].
Assim, conclui referido autor que a racionalização do mundo pelo capitalismo é baseada na externalização, na exploração de recursos e no carregamento das esferas do planeta com resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Para o capital, as sociedades e os sistemas terrestres existem apenas na medida em que são incorporados ao mundo da racionalidade, do cálculo monetário, da valorização capitalista. O capital vê apenas o que pode precificar[4].
Destaco aqui os seguintes aspectos apontados por Altvater: Externalização de custos; Exploração incessante de recursos; Geração de resíduos; Cálculo do valor monetário em detrimento do valor socioambiental; e relevância da sociedade e da natureza limitada à percepção de sua contribuição para o crescimento econômico e o lucro
A incapacidade de abordar as preocupações ambientais e sociais inviabiliza o direcionamento da polícia estatal em defesa da sustentabilidade, da equidade e do bem-estar das pessoas e do planeta, pois isso resultaria na negação do próprio sistema econômico tal como ele se apresenta hoje.
Sendo o mercado o propulsor da transformação da natureza em mercadoria e emissor de poluição, e estando ele no controle do Estado, logicamente não se deixará coagir para adotar métodos e técnicas sustentáveis e não impactantes, no ciclo de exploração de recursos naturais, produção, consumo e descarte. Alterações de rumo se processarão apenas dentro da lógica de mercado: barateamento dos custos de produção sem prejuízo da receita advinda do consumo. Trata-se de uma lógica implacável, expressamente fixada na própria legislação que rege as sociedades anônimas.
Nesse contexto, a categoria que mais se aproxima da de cidadão, no plano econômico, é a de consumidor. Se aviltarmos o conceito de cidadão, reduzindo-o ao de consumidor, que participa ativamente do ciclo econômico, pode ele, de fato, interferir de alguma forma na modificação dos padrões de produção e consumo.
No Brasil, a cidadania ambiental está claramente estampada no caput do art. 225 da Constituição Federal: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa expressão é ampla, abrangendo não apenas o cidadão entendido como detentor de direitos políticos (eleitor), mas também a criança e o adolescente, o estrangeiro residente no Brasil ou simplesmente em trânsito pelo território nacional, enfim, todo ser humano presente no país. Trata-se de expressão jurídica de uma cidadania ambiental passiva e ativa também, pois impõe à coletividade (e não apenas ao Estado) o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Na condição de consumidor, partícipe do ciclo econômico, o cidadão ambiental pode até invocar o cumprimento da ordem econômica como delineada no art. 170, inciso VI, da Constituição Federal, isto é, que assegure a todos uma existência digna e promova a defesa do meio ambiente.
Mas a condição de cidadão é algo muito mais amplo do que a de consumidor. Em artigo intitulado A New International Law of Citizenship, Peter J. Spiro indaga se irá o Direito Internacional colonizar o último bastião da soberania. Diz ele que a doutrina tradicional de Direito Internacional tem pouco a dizer a respeito das práticas de cidadania dos Estados e sobre os termos nos quais os Estados determinam as fronteiras dessa qualificação. Os Estados têm sido livres com relação a quem recebe cidadania e sob quais condições. Historicamente, o status de cidadania tem sido considerado uma questão de autodefinição nacional. E a nacionalidade tem sido equiparada à identidade de marcadores étnicos, religiosos ou de outras comunidades socioculturais nos espaços territoriais[5].
Por isso, já em 2012 Ronald C. Israel propunha que a crescente interconexão entre pessoas, países e economias permite pensar numa cidadania global. Cidadãos globais seriam uma comunidade mundial emergente e comprometida em ajudar a construir os valores e práticas dessa comunidade[6]. Ele propõe a construção dessa cidadania global, a partir de um esforço de advocacy, assinando petições, participando de manifestações e financiando causas globais. Diz o autor que: “Ao unir nossas vozes e ações, podemos mostrar solidariedade e defender valores comuns, como direitos humanos, proteção ambiental e desarmamento”.
Nesse sentido, pergunto se é possível, dentro das centenas de diferentes ordenamentos jurídicos internos, cogitar do reconhecimento jurídico de uma cidadania internacional ambiental, levando-se em conta que o próprio conceito de cidadania pressupõe igualdade. Falamos de regimes democráticos e de reconhecimento da Corte Internacional de Justiça? Estaremos dispostos, no contexto de emergência climática, a dar voz a quem está excluído do processo de produção e consumo? À multidão de refugiados ambientais será dado tratamento de cidadãos internacionais ambientais ou de invasores, clandestinos, criminosos? No contexto de ascensão de regimes xenofóbicos e de teocracias, há como falar em cidadania ambiental internacional?
Afastados os extremos, entendo que haja, sim, condições de superação dos limites da atuação dos Estados Nacionais e dos Organismos Internacionais a partir do reconhecimento de uma cidadania ambiental planetária, muito embora ainda acredite na importância de fortalecer a ONU, em particular a UNEP (ou PNUMA), como mais importante foro de debates internacionais sobre meio ambiente. O grande entrave, parafraseando George Orwell, é a existência de alguns Estados “mais iguais” do que outros, com poder de veto de decisões apoiadas por esmagadora maioria da comunidade internacional.
Podemos participar de organizações não governamentais, redes de ação global, associações profissionais internacionais e outras entidades ou movimentos despersonalizados, com vista à construção de uma cidadania internacional ambiental e de uma comunidade global solidária que enfrente a irresponsabilidade organizada do mercado no trato das questões climáticas, da biodiversidade e dos direitos humanos. Em que pesem as diferenças culturais, religiosas, linguísticas, econômicas, políticas, entre as nações, somos uma mesma espécie de vida num planeta que caminha, por conta de nossa desídia, para um processo irreversível de degradação.
É preciso, porém, decolonizar a militância ambientalista. A reparação de injustiças históricas diz respeito tanto à luta antirracista como ao feminismo e ao ambientalismo. Não serão um abaixo-assinado do Greenpeace dirigida ao Brasil ou uma arrogante entrevista da BBC ao presidente da Guiana que irão reverter em benefício de uma cidadania ambiental internacional e da mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.
É da maior urgência trazer ao debate internacional as questões levantadas por Irfaan Ali e reiterar esse princípio consagrado na Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio/92), segundo o qual as partes devem proteger o sistema climático em benefício das gerações presentes e futuras com base na equidade e em conformidade com suas respectivas capacidades e que, em decorrência disto, cabe a países como EUA, Reino Unido, Alemanha, França, China e Rússia, que participaram da CMC, tomar a iniciativa no combate à mudança do clima e seus efeitos, devendo considerar as necessidades específicas dos países em desenvolvimento, em especial os particularmente vulneráveis aos efeitos negativos da mudança do clima.
[1] MOREIRA, Adriano. Teoria das Relações Internacionais, 6ª ed. Edições Almedina S.A. : Coimbra, Portugal : 2008. Pág. 37.
[2] SOARES, Guido F. S. Direito Internacional do Meio Ambiente: Emergência, Obrigações e Responsabilidades”. São Paulo : Atlas, 2001. Pp. 216/217.
[3] ALTVATER, Elmar. The Capitalocene, or, Geoengineering against Capitalism’s Planetary Boundaries. In: MOORE, Jason W. (editor). Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism. Oakland/CA, USA : PM Press, 2016. P. 147.
[4] Cit., p. 149/150.
[5] SPIRO, Peter J. A New International Law of Citizenship. In The American Journal of International Law. Vol. 105, n. 4, p. 694-746, pub. Cambridge University Press.
[6] ISRAEL, Ronald C. What does it mean to be a Global Citizen? Artigo originalmente publicado em 2012 e republicado no Kosmos – Journal for Global Transformation. Acesso em 19/3/2024.
As opiniões e informações publicadas nas seções de colunas e análises são de responsabilidade de seus autores e não necessariamente representam a opinião do site ((o))eco. Buscamos nestes espaços garantir um debate diverso e frutífero sobre conservação ambiental.
As informações apresentadas neste post foram reproduzidas do Site O Eco e são de total responsabilidade do autor.
Ver post do Autor