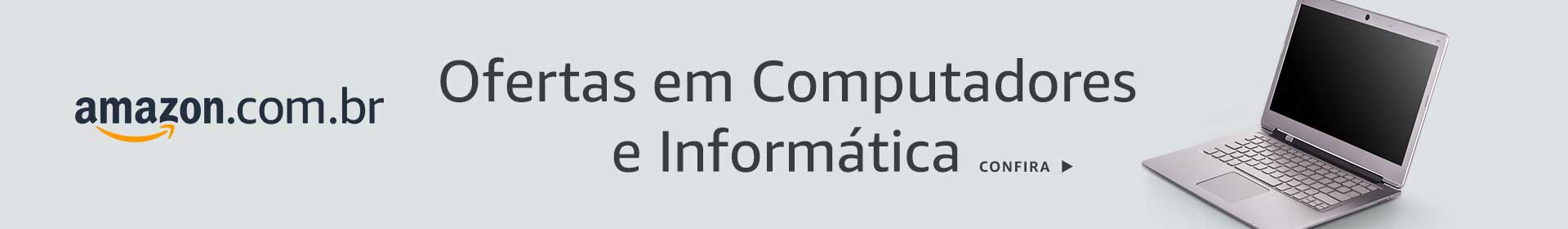Brasil 4 X 1 Tchecoslováquia
Resistência Popular 2 X 1 Repressão e Ditadura
Por Sérgio Valença
O Boeing 707 da VARIG tocou suavemente a pista, perdeu velocidade, entrou no caminho lateral e começou a taxiar em direção ao terminal do aeroporto.
Mes dames et monsieurs, bienvenues à Paris!
Dentre quelques instants nous serons arrivèes à Paris-Orly.
O francês dela era corretíssimo com todos os passés, tanto o simple como o composé. Mas o sotaque, a entonação arrastada, não deixava dúvidas. Baiana. A bela mulata de olhos verdes era com toda certeza filha de São Salvador. Respirei fundo e pensei “agora só falta passar no controle de passaportes da Suréte Nationale”.
Onze horas antes, o voo 820 da Varig decolava do Galeão sobrevoando a baía da Guanabara e nos oferecia uma vista maravilhosa do meu Rio de Janeiro. Estava agora deixando o Brasil e essa viria a ser a última etapa de um longo processo de fuga que tivera seu início um ano antes.
Brasília, 1969, última semana do mês de maio, quarta-feira. Depois de um dia atribulado no campus da UnB (Universidade de Brasília), por volta das cinco e meia da tarde, cheguei na SQS106, no apartamento onde eu morava com os meus pais. Os planos para aquela noite eram simples: um banho rápido, um sanduíche grande, depois apanhar a namorada e ir ao cinema. Filme em cartaz: 2001 Uma Odisséia no Espaço.
Nada disso aconteceu.
E hoje, mais de quarenta anos depois, em Estocolmo, vou tentando escrever sobre o que aconteceu. Vou, aos poucos, me lembrando de tudo como se fosse num filme e, ainda por cima, em câmera lenta.
Banho tomado, sanduíche comido, desço para o estacionamento, sento-me no Gordini azul e dou a partida. O veículo faz um ziguezague, deixa a vaga do estacionamento e, lentamente, vai começando a entrar no sistema viário da superquadra. A uns quarenta metros do estacionamento, sou obrigado a dar uma freada brusca. De repente, duas caminhonetes Chevrolet Veraneio, uma na minha frente e outra atrás de mim, bloqueiam toda a rua e me impedem totalmente de continuar. Imediatamente, cinco agentes da repressão armados de pistolas e metralhadoras cercam o meu carro enquanto um sexto, aos berros de “sai daí seu filho da puta”, me arranca do assento do motorista e me arrasta para a viatura policial. No meio daquela confusão toda, ainda consegui gritar para o porteiro do prédio:
-Seu Bartolomeu, diga ao meu pai que estou sendo preso pelo DOPS.
Isso me qualificou imediatamente para uma coronhada nas costas e um lugar no chão da Veraneio, debaixo dos pés dos agentes da repressão. Vinte minutos, depois chegávamos ao DOPS de Brasília e os interrogatórios começaram imediatamente. Completamente nu, debaixo de um chuveiro de água fria, lavando cacetadas, socos e pontapés, ecoava uma única pergunta repetida constantemente pelos torturadores:
– Onde está o Prates?
– Onde é que você deixou o Prates?
– Onde está o Prates?
Prates, no caso, era Jose Antonio Prates, estudante de arquitetura da UnB, ex-presidente do DACAU (Diretório Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo) que mais tarde também foi presidente da FEUB (Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília).
A polícia, naquele momento, parecia só estar interessada no paradeiro do Prates. Segundo os agentes da repressão ele teria saído do campus da UnB comigo, no meu carro, por volta do meio-dia no mesmo dia em que fui preso. Isso não era verdade.
Tanto Prates como eu militávamos no movimento estudantil mas pertencíamos a organizações diferentes – eu à AP e ele a outra organização. Por isso, para mim o interrogatório no DOPS tornava-se cada vez mais confuso. Surrealista, mesmo.
Por alguma razão, a repressão estava atrás do Prates e, ao que tudo indicava, parecia ignorar ou não estava interessada, naquele momento, na minha militância na AP. Além disso, os policiais estavam completamente convencidos de que eu fazia parte de um esquema de segurança que garantia a entrada e a saída dele, Prates, no campus da UnB. Também isso não era verdade o que, de certa forma, favorecia um pouco as minhas condições… Se é que se pode falar em facilidade quando você está sendo interrogado pelos os órgãos da repressão.
José Prates eu conhecia bem. Muitas vezes dei carona a ele (e a muitos outros) entre a UnB e o plano piloto como se dizia na época. Mas naquele dia, não. Eu tinha permanecido o dia inteiro no campus e somente voltei para casa no fim da tarde para ir ao cinema. Restava, então, a hipótese de ele, Prates, ter deixado a UnB na hora do almoço, dentro do citado automóvel. Isso pode ter acontecido.
O Gordini, na época, era meu só no papel. Sem dúvida era eu quem o dirigia na maioria das vezes. Mas, na prática, muitas outras pessoas usavam o carro, que era, digamos assim, uma propriedade coletiva. No dia-a-dia, era usado por mim, por meu irmão e por muitas outras pessoas entre nossos amigos e conhecidos. Havia várias chaves de ignição das quais eu e meu irmão dispúnhamos cada um da sua. Mas havia outras. Nossas namoradas e, às vezes, os irmãos e irmãs delas também usavam o automóvel. Na realidade, uma grande quantidade de pessoas podia usá-lo segundo as necessidades do momento, sem que eu, o feliz proprietário, tomasse conhecimento. Depois de utilizado, o carro seria, incondicionalmente, estacionado em frente ao prédio do ICA. Isso era lei. Por isso é possível que alguém o tenha dirigido para ir ao plano piloto levando ou não o Prates.
Todos os detalhes dessa história nunca foram conferidos, mas há, pelo menos, indícios de que o veículo deixara a UnB na hora do almoço. Entretanto, vai tentar explicar esses fatos todos para os homens da repressão nu, debaixo de um chuveiro de água fria e levando bordoadas , socos e pontapés!
A temporada no DOPS foi curta e a tortura relativamente leve e esporádica. Três dias depois da minha prisão, num domingo à tarde, fui posto em liberdade sem maiores explicações. A polícia tinha mudado a sua tática e agora pensava em me transformar em isca para alcançar seus propósitos. Saí do DOPS apavorado, com dores no corpo inteiro, alguns hematomas, levando uma idéia fixa: “preciso deixar Brasília imediatamente”. Eu estava completamente convencido de que a repressão dentro de muito pouco tempo iria me identificar como militante da AP e, nesse caso, as perguntas seriam outras e um pouco mais difíceis.
Menos de vinte e quatro horas depois de liberado pelo DOPS em Brasília, eu estava na Paulicéia. A viagem só foi possível graças a um esquema de segurança que eu mesmo havia montado para saída de quadros da AP de Brasília em caso de emergência. Um único telefonema. Um funcionário do Tribunal de Contas totalmente desconhecido para mim apanhou-me no seu carro na rodoviária de Brasília e me deixou em Anápolis. Dali, segui para Goiânia em outro veículo com uma funcionária do Banco do Brasil, também ela desconhecida. De Goiânia para São Paulo fui de ônibus regular.
Começo de junho, uma garoa chata caindo de vez em quando. À noite, já fazia um bom friozinho e eu, agora em São Paulo, sem lenço e sem documento.
Durante os doze meses em que morei em São Paulo, só pude sobreviver graças ao apoio, à solidariedade e à generosidade de muitos amigos, companheiros e familiares. Sem isso não teria sido possível ficar por lá. Vale lembrar especialmente a solidariedade e o apoio dos pais da minha namorada daqueles tempos: ele, deputado federal pelo MDB e ela, professora da USP. Acolheram-me em sua casa sem restrições. Continuo extremamente agradecido a todos aqueles amigos, companheiros e familiares que me deram casa, comida, dinheiro e muito mais numa época em que, o simples fato de permitir que alguém perseguido pela ditadura dormisse na sua casa já poderia ser o suficiente para que você fosse enquadrado na Lei de Segurança Nacional.
Emprego regular não era possível, só no mercado negro, pois faltava documentação. Estudar matriculado em escola nem pensar. Moradia? Complicada. Durante a minha estada em São Paulo, mudei umas quatro ou cinco vezes de pensão para evitar muitas perguntas, pois corria o risco de ser descoberto. A rotina era muito estranha. Entre um biscate e outro, a maior parte do tempo era consumida em longas caminhadas pela cidade para dar a impressão de ter um horário normal de trabalho e, assim, não levantar maiores suspeitas. A isso se juntava um pavor constante de ser surpreendido em um controle de documentos de rotina ou ainda de ser apanhado pela repressão por causa de alguma infração de trânsito.
O tempo passando e a realidade piorando.
No país inteiro houve um aumento da repressão em 1969. Depois do AI-5, a luta armada contra a ditadura se acirrou e as forças da resistência conseguiram algumas vitórias em ações bem sucedidas, algumas delas espetaculares, como o sequestro do embaixador norte-americano.
Em Brasília, a polícia política deu várias batidas, algumas delas noturnas, na casa de meus pais, na esperança de me encontrar por lá. Ao que tudo indica, ficaram bem confundidos, pois não podiam entender como é que eu tinha sumido tão rapidamente da capital federal. Esse conjunto de circunstâncias continuou por algum tempo sem outro resultado senão o de causar medo e indignação aos meus familiares aterrorizados.
Mais ou menos três meses depois da minha prisão, a família vendeu o meu carro para fazer um dinheirinho. Quinze dias depois da transação, o comprador voltou e, aos gritos, queria devolver o veículo, pois ele já tinha sido detido três vezes em batidas do DOPS, que continuava procurando por mim. Obviamente seu pedido de devolução não foi atendido.
O tempo passando e a conjuntura piorando.
As investigações da repressão acabaram descobrindo a minha militância no movimento estudantil e também na AP. Fui então enquadrado no decreto 477 e indiciado em pelo menos dois IPM (Inquérito Policial Militar) o que imediatamente me colocou na condição de foragido da justiça.
O tempo passando e a situação piorando.
Nessa altura dos acontecimentos, logo depois do ano novo de 1970, decidi que estava na hora de deslocar-me para outro do país. Já não militava, pois tinha perdido todos os contatos com a organização e não havia, naquele momento, como refazê-los. Muito arriscado para mim e totalmente irresponsável do ponto de vista da organização. O mar não estava para peixe. Estava na hora deixar a pátria amada. Mas como? Para onde ir? E os documentos? E dinheiro? Como sobreviver em um outro país se as coisas já estavam pretas aqui? Como sempre, nessas ocasiões, as perguntas eram muitas e as respostas inexistentes.
Por meio de amigos, confirmei as notícias na mídia de que Oscar Niemeyer iria compor uma nova equipe de arquitetos brasileiros para desenvolver projetos na Argélia. Tratava-se de dois projetos: o campus da Universidade de Constantine e o novo Centro Administrativo do governo na capital Argel. Pensei que por aí talvez houvesse uma solução para a minha retirada.
Muito sol na Avenida Atlântica neste fim de verão, mas é uma terça-feira, dia de semana, e por isso a praia não está lotada. Pego o elevador e vou até o andar da cobertura. Toco a campainha e, depois de pouco tempo, a porta se abre. Para minha surpresa, é o próprio Oscar Niemeyer quem está atrás da porta do escritório. Fico um pouco embaraçado, mas digo algo como:
– Fui eu que lhe telefonei na semana passada, de São Paulo, para conversar sobre os projetos na Argélia.
– Isso mesmo! Entre, entre! Você trabalhou com o Lélé em Brasília, eu agora me lembro de você.
Conhecia Oscar Niemeyer fazia algum tempo. Algumas vezes nos encontramos no escritório do Lélé em Brasília onde trabalhei nos anos de1968-69. O escritório funcionava como ponto de encontro dos arquitetos que colaboravam com Oscar Niemeyer ou tinham trabalhado em seus projetos em Brasília. Alguns ex-professores, expulsos, do ICA-FAU (Instituto Central de Artes-Faculdade de Arquitetura e Urbanismo) da UnB costumavam também aparecer para bater papo. Ítalo Campofiorito, Glauco Campelo, Fernando Burmeister, Luis Carlos Magalhães, Edgard Graeff são alguns dos nomes que me vêm à memória agora, mas a lista poderia ser muito mais longa.
Sentamo-nos num canto do escritório e eu, durante mais ou menos meia hora de conversa, relatei a minha história. Procurado pela repressão, sem possibilidades de estudar ou trabalhar, com dificuldades sérias de arranjar moradia, por isso tinha-me decidido a deixar o país. Estava, naturalmente, interessadíssimo em discutir a possibilidade trabalhar nos projetos que o escritório iria desenvolver na Argélia. Na maior parte do tempo Oscar manteve-se calado, ouvindo atento. O seu silêncio só foi interrompido umas poucas vezes por comentários curtos de crítica à repressão e apoio à luta contra a ditadura. Nesses comentários gerais e outros, representantes da ditadura eram citados pelo nome e qualificados com palavrões dos mais grossos.
De repente ele disse:
– É. A situação está pesada. Infelizmente eu não posso ajudá-lo a sair do Brasil. Não tenho possibilidade, sou muito vigiado. Se você conseguir chegar à Argélia você vai trabalhar na equipe. Eu lhe garanto. È um bom salário e os argelinos lhe arranjam um lugar para morar.
Expliquei que não tinha a menor intenção de pedir sua ajuda no meu processo de saída do país. Esclareci, ao mesmo tempo, que o fato de poder trabalhar com a equipe dele na Argélia seria a melhor ajuda que eu poderia receber naquele momento. Agradeci e ele fechou o assunto:
– Dentro de um mês mais ou menos eu vou encontrar representantes do governo argelino e discutir os detalhes da viagem da equipe. Vê se você consegue chegar até a Argélia para poder começar a trabalhar conosco.
Dito isso, ele se levantou, virou-se para dentro do escritório e disse em voz alta:
– Lopes! Ô Lopes, põe o nome dele na lista do pessoal que vai trabalhar na Argélia.
José Lopes da Silva, arquiteto português que há muitíssimos anos trabalhava com Niemeyer em praticamente todos os projetos, replicou quando já estávamos frente a frente com ele, junto à sua prancheta:
– Que lista, Oscar? Não tem nenhuma lista com os nomes do pessoal que vai atuar na Argélia. Que lista? Não tem nenhuma lista!
Com voz pausada e imitando o sotaque de português, Oscar diz a ele:
– Então tu fazes uma lista, ó portuga! E pões o nome dele na cabeça!
Trabalho prometido. Agora era tratar de sair do país e chegar à Argélia. Mais uma vez a sorte sorria para mim e acertava os ponteiros para o meu lado. Atravessei a rua e, pelo calçadão da Avenida Atlântica, comecei a caminhar em direção ao Leme. Alguns minutos mais tarde, quando me sentei num bar na altura do Posto Três, comecei imediatamente a planejar a viagem. Havia algumas hipóteses, mas faltavam os documentos. Um passaporte com visto de saída era a peça chave.
Num primeiro momento pensei em arranjar uma nova identidade e deixar o país clandestinamente. Mas levaria muito tempo e era muito custoso. Além do mais, haveria, com toda certeza, problemas burocráticos a resolver caso eu conseguisse chegar a Argel com uma nova identidade. Como de costume, o impasse se resolveu na área dos amigos e companheiros. Não me lembro exatamente como, mas algum amigo ou companheiro identificou um contraparente que trabalhava como despachante de documentos em São Paulo. Era suficientemente de confiança para ser sondado a respeito do assunto. Fui ao seu encontro e coloquei-lhe a questão do passaporte. O despachante foi categórico:
– Ah, doutor! Essa não dá não! Isso eu não faço por dinheiro nenhum. Eu não me meto em política, eu tenho família e filhos. Essa não, doutor!
Aí me lembrei do Drummond.
E agora, José?
A festa acabou,
a luz apagou
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, José ?
Como é que eu vou arranjar esse passaporte? De onde vai sair o verdinho?
Depois de mais alguns minutos de conversação, o despachante volta a repetir, desta vez mais enfático e com o propósito de encerrar o nosso assunto:
– Isso eu não faço de jeito nenhum.
Mas aí ele acrescentou algumas palavras mágicas:
– Mas por um bom dinheiro tem gente que faz.
Retomamos a conversa e ele se dispôs a “dar uma olhada na praça e ver se achava alguém que estivesse interessado”. Pouco tempo depois, ele me passou o contato de outro despachante, em Campinas. Fui até lá. E de repente o trâmite andou muito rápido.
– Doutor, eu descolo um passaporte para o senhor com visto de saída e tudo. No mesmo dia. Só preciso da sua certidão de nascimento no original, uma cópia do título de eleitor e uma cópia do o certificado de reservista e um dinheirinho, né?
O dinheirinho era na verdade um dinheirão, uma pequena fortuna. Tentei negociar.
– Mas isso é muito dinheiro. São quase doze salários mínimos.
– Doutor! O senhor precisa do passaporte. E eu preciso falar com muita gente e acertar muitos detalhes. Tem gente que vai fechar os olhos, outros vão sair para tomar um café. Tudo isso antes de eu ter o passaporte do senhor na minha mão. O preço é fixo, doutor.
Mais uma vez tive que recorrer aos amigos para juntar os recursos necessários. Voltei a Campinas com a quantia e os documentos pedidos. Não deu outra! No fim da tarde lá estava o passaporte verdinho e todo certo com visto de saída e tudo.
Então, a questão passou a ser por onde sair do Brasil em direção à Argélia. A hipótese inicial era passar pela fronteira com o Uruguai ou a Argentina, partindo de alguma cidade no Rio Grande do Sul ou no Paraná. Havia diversas alternativas e a saída parecia relativamente simples. O problema surgia na segunda etapa da viagem. Todos os voos de Buenos Aires ou Montevidéu para Paris faziam escalas no Galeão. Arriscado, muito arriscado. Fazer a rota Montevidéu-Lima-Paris era caríssimo e simplesmente não havia condições. Não era uma alternativa.
Aos poucos foi ganhando força um pensamento meio maluco na minha cabeça. Por que não tentar sair pelo Galeão mesmo? Riscos? Sem dúvidas, mas com um pouco de sorte poderia até dar certo. Havia prós e contras. Do lado positivo colocava-se o fator surpresa e o absurdo da situação. Muito poucos dos perseguidos pela ditadura, naquela época, planejariam deixar o país passando pelo Galeão. Também era positivo o fato de o passaporte não ser falso. Por outro lado, o controle da Policia Federal no aeroporto era dos mais efetivos e havia um grande risco de que informações de Brasília já tivessem chegado ao Rio.
Decidi tentar o Galeão. O fator decisivo foi a estreia da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo de 1970. Em 3 de junho, o Brasil iria estrear jogando contra a Tchecoslováquia no Estádio de Jalisco em Guadajalara, no México.
Como sempre as expectativas eram enormes em torno de um jogo da seleção pela Copa do Mundo. A cidade e o resto do país estavam quase em transe. Discussões, palpites, opiniões e comentários de todos sobre tudo o que se referia à Seleção Brasileira. A ditadura investia pesado na Copa do Mundo exigindo a vitória. Esse investimento fazia parte das campanhas da ditadura como “Brasil ninguém segura esse país”, “Brasil ame-o ou deixe-o”, “Brasil conte comigo”. A preocupação do governo da ditadura era tamanha que, durante a fase de preparação, o técnico João Saldanha foi afastado do cargo por ordem direta do general Garrastazu Médici.
O começo do jogo estava marcado para 16 horas, horário local. Fiz as contas e daria 19 horas, hora do Rio. Perfeito. O voo 820 da VARIG deveria deixar o Galeão por volta das 23h30min. Marquei a passagem apostando um pouco na sorte e muito na filosofia do brasileiro. Com toda a certeza, no aeroporto naquela noite, os agentes da Polícia Federal estariam muito mais interessados em ver ou ouvir o jogo de estreia da seleção na Copa do Mundo. A verificação minuciosa dos passaportes seria colocada em segundo plano.
Morrendo de medo, no Aeroporto do Galeão, entrei na fila do controle de passaportes, que se apresentava mais ou menos longa, umas trinta pessoas, talvez, mas andava bem rápido e sem atropelos. Tinha montado um pequeno esquema de segurança que envolvia dois companheiros. Nenhum dos dois sabia da existência do outro. O primeiro permanecia no saguão do aeroporto para conferir o meu embarque. Tinha chegado só, usando o próprio automóvel. Caso eu caísse no controle de passaportes, era sua função deixar o aeroporto discreta e rapidamente com o objetivo de avisar amigos e familiares que, então, fariam a denúncia da minha prisão. O segundo foi quem me levou de carro ao aeroporto. Deixou-me na entrada do terminal, estacionou o veículo numa vaga próxima, sentou-se num banco do lado de fora e ficou esperando. Caso houvesse necessidade e possibilidade de fuga, ele me levaria de carona para um endereço pré-estabelecido.
Os quinze ou vinte minutos em que fiquei na fila de passaporte naquela noite foram, até agora e sem dúvida alguma, os mais longos e angustiantes da minha vida. Pulso bem alto, a cuca a mil. Atento a tudo o que se passava em torno de mim, eu conseguia dar uns poucos passos completamente descontraídos toda vez que a fila andava um pouquinho. Do meu lugar, podia observar todos os detalhes da rotina dos controladores da Polícia Federal. Eram dois. Havia um terceiro, mas ele saiu do balcão e dirigiu-se para as dependências atrás da unidade de controle. No balcão, um radinho de pilhas transmitia o jogo desde Guadalajara. A rotina parecia simples. Ao se aproximar do balcão, o passageiro entregava o passaporte e o cartão de embarque ao agente número um. Ele abria o documento na página com a foto do portador e confrontava essa foto com o rosto do passageiro de uma forma ostensiva e constrangedora. Em seguida, entregava o verdinho ao seu colega, agente número dois, encarregado de conferir o nome do passageiro com as listas da repressão. Feito esse controle, o documento era devolvido ao número um. Pouco depois, ouvia-se, PLOINK, o passaporte carimbado e o portador autorizado a embarcar e deixar o território nacional. O policial devolvia o passaporte ao passageiro com votos de Boa Viagem, Bon Voyage ou Have a Nice Trip. Tudo isso levava mais ou menos 30-45 segundos. Uma eternidade para mim que me encontrava aterrorizado e lutava com dificuldades para controlar a ansiedade.
A bola rolando no estádio de Jalisco e a fila se arrastando no Galeão.
PLOINK e dávamos alguns passos. PLOIINK de novo e mais alguns passos.
PLOINK.
PLOINK.
PLOINK.
E finalmente chegara a minha vez.
– Boa noite, para onde o senhor está indo?
– Boa noite. Vou a Paris pela VARIG voo 820.
– Mas o senhor está chegando cedo, o 820 da VARIG só sai às 23h30min.
Para a minha própria surpresa fixei o seu olhar e disse em tom completamente descontraído:
– É. É um pouco cedo, mas eu detesto correrias de última hora. Eu moro em Niterói e fico dependendo do horário das barcas.
E sem deixar o menor espaço para uma réplica emendei imediatamente apontando para o radinho:
– Como é que está o jogo?
– Os Tchecos estão ganhando de 1 a 0. A seleção está jogando mal. A zaga marcou bobeira e eles fizeram um gol. Vamos ver como isso termina.
PLOINK.
E de repente ouvi o número um dizer “boa viagem” enquanto me devolvia o passaporte carimbado.
O Boeing 707 ganhou altura, deixou para trás a cabeceira da pista do Galeão e fez um semicírculo elegante sobre a baía da Guanabara enquanto o piloto corrigia o curso para nordeste. Naquele momento, vendo todo o meu Rio de Janeiro lá embaixo me perguntei: quanto tempo vou ficar lá fora? Será que ainda volto algum dia? Quanto tempo o país vai permanecer sob o jugo da ditadura? Finalmente, afastava-me do Brasil a caminho de vida nova na Argélia.
Não houve problemas no controle de passaporte da Surété Nationale. Só rotina. Qual a razão da sua viagem à França? Quanto tempo vai passar aqui? Quanto dinheiro tem consigo?
– Bienvenue à Paris, Monsieur!
PLOINK.
Já no saguão de desembarque conferi as manchetes dos jornais franceses. LÈquipe estampava: Brésil X Tchécoslovaquie: 4-1.
Pensei que, no meu jogo contra a ditadura, a repressão fez o primeiro gol quando fui preso em Brasília. Consegui empatar no momento em que deixei Brasília e me estabeleci em São Paulo, mas marquei o gol da vitória quando deixei o país a caminho de vida nova na Argélia. E essa foi uma vitória de virada.
Por isso, o placar daquele 3 de junho de 1970 para mim será sempre:
BRASIL 4 X 1 TCHECOSLOVÁQUIA
RESISTÊNCIA POPULAR 2 X 1 REPRESSÃO E DITADURA
PS: Essa é uma história minha, contada por mim 40 anos depois do acontecido. É a minha memória. Descrevi os fatos como eu sinceramente me lembro deles hoje.
* Sérgio Valença
Carioca, nasceu em 1947. Secundarista em 1964, já militava na AP. Em 1968, cursava Arquitetura e Urbanismo, em Brasília, na UNB. Depois de segunda prisão, em junho de 1969, sai clandestino para São Paulo. Em 1970, viaja do Rio à Argélia e trabalha com Oscar Niemeyer durante um ano. Exilou-se na Suécia desde 1971. É Diretor de Patrimônio dos Correios, aposentado, da Suécia e mora em Estocolmo.
Este texto encontra-se na página 482 do livro “68 a geração que queria mudar o mundo relatos”, organizado e editado por Eliete Ferrer, publicado no Projeto Marcas da Memória da Comissão de Anistia, na Presidência de Paulo Abrão.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222109609635318&id=1415087732&mibextid=YOZbMF
Para ler ou gravar o livro, acesse aqui:
https://documentosrevelados.com.br/wp-content/uploads/2018/01/68-a-geracao-que-queria-mudar-o-mundo-relatos.pdf
Exatamente.