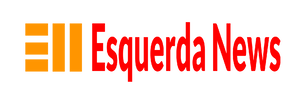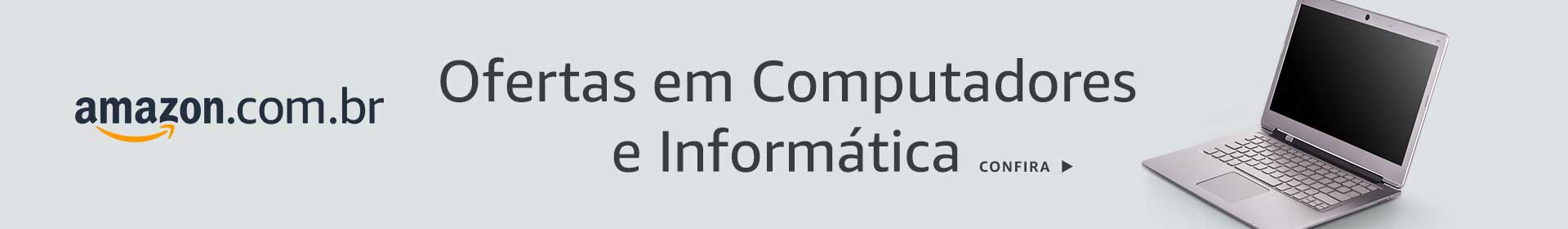Na imagem acima, o Mestre Damasceno na Estação das Docas, em Belém (Foto: Divulgação).
BELÉM (PA)- Mestre Damasceno partiu hoje. Numa dessas coincidências- ou não- da vida, faleceu aos 71 anos, no Dia Municipal do Carimbó, após enfrentar um câncer. Foi homenageado na Feira Pan-Amazônica e condecorado com a Ordem do Mérito Cultural, deixando legado no carimbó, Búfalo-Bumbá e tradição do Marajó.
Mas sua ausência não é apenas individual. É uma ferida aberta na memória cultural do Pará. Ele, como Verequete, Mestre Vieira, Mestre Cupijó, como tantos outros e outras, fazia parte de uma linhagem de guardiões que sustentam a identidade de um povo através da música, da oralidade e da tradição. Quando um mestre desses se vai, não perdemos apenas um artista. Perdemos uma biblioteca viva, um rio subterrâneo que alimenta gerações e que nos lembra, de modo quase visceral, de onde viemos.
É necessário lembrar para não esquecer. Mestra Iracema Oliveira, por exemplo, guardiã do Pássaro Junino Tucano, além de liderar o grupo parafolclórico Frutos do Pará é uma dessas vozes. Mestra Laurene Ataíde, que coordena o Cordão Pássaro Colibri de Outeiro, oriundo da Vila de Icoaraci, em Belém. Mestra Bigica, Mestra Iolanda do Pilão e Mestra Miloca, imortalizadas em um documentário produzido por Aíla e Roberta Carvalho. São nomes a serem lembrados, respeitados, cultivados.
É cada vez mais raro, nesse tempo apressado das redes sociais, em que a velocidade substitui a profundidade, perceber o valor de mestres e mestras da cultura popular. A lógica imediatista — feita de likes, vídeos de poucos segundos e consumo apressado — não consegue abarcar a densidade de quem constrói sua arte na lentidão do tempo, no convívio com a comunidade, no gesto repetido até se tornar ritual. Damasceno, Verequete, Vieira não cabem nos 30 segundos do feed: eles são obra de uma vida inteira, de uma paciência que só o trabalho artesanal da cultura popular ensina.
E é justamente nesse contraste que mora o perigo. Porque quando a pressa passa a ser medida de valor, o que se perde é a memória. E sem memória, a cultura se torna frágil, descartável, incapaz de sustentar o presente e projetar o futuro. O vazio do imediatismo é terreno fértil para a homogeneização, para que tudo soe igual, pasteurizado, sem alma. É nesse ponto que lembramos que o contemporâneo só floresce porque há raízes. Não à toa, quando o manguebeat surgiu em Recife, nos anos 1990, a bandeira erguida por Chico Science e Nação Zumbi era justamente essa: atualizar o ancestral, colocar a lama e o mangue em diálogo com o rock e a música eletrônica. O Pará viveu movimento semelhante: a guitarrada, o carimbó e o brega dialogam com o pop, com o eletrônico, com a música urbana global. Pinduca fez isso lá atrás. Esse gesto é a prova de que o futuro floresce mais vigoroso quando não renega suas raízes.
A música mundial também guarda exemplos semelhantes. Quando Bob Dylan chegou a Nova Iorque, no início dos anos 1960, a primeira coisa que fez foi procurar Woody Guthrie, o trovador popular norte-americano, que convalescia praticamente esquecido num leito hospitalar. Dylan sabia que para escrever canções que dissessem algo de verdadeiro sobre o seu tempo precisava antes se aproximar da tradição, ouvir de perto aquele que carregava a memória do povo. Guthrie, para os Estados Unidos, era o que Damasceno, Verequete e Vieira foram para o Pará: faróis que iluminam os caminhos do futuro com a chama do passado.
Paulinho da Viola sintetizou essa sabedoria em verso: “quando penso no futuro, não esqueço do passado”. Essa frase deveria ecoar como lema de toda política cultural, mas sabemos que não é bem assim. Os setores mais conservadores e autoritários da sociedade, em especial da direita, tratam esse tipo de legado com descaso. Não compreendem que investir em mestres e mestras populares é investir em identidade, em pertencimento, em memória. Preferem enxergar cultura apenas como espetáculo de massa, ou como produto de mercado, incapazes de perceber a grandeza que existe na simplicidade de um batuque, de uma roda, de um canto ancestral. Isso quando assim o fazem, já que arrochas, forrós de plástico, shows sertanejos pop e stand up de comédias com teores misóginos, racistas e homofóbicas parecem ser o máximo a que se permitem aceitar como cultura.
Essa negligência não é inocente. Apagar ou minimizar mestres da cultura é, em certa medida, apagar também as raízes populares que sustentam a resistência, a diversidade e a pluralidade do Brasil. É reduzir o país a uma caricatura homogênea, pronta para ser consumida, mas sem densidade histórica. Contra isso, mestres como Damasceno sempre nos lembraram que a cultura é mais do que estética. Ela é memória, é resistência, é um modo de continuar existindo diante da pressa e do esquecimento.
A morte de Damasceno nos convida, portanto, a uma reflexão que vai além da saudade. É um chamado a repensar nossa relação com o tempo, com a memória e com a cultura. Em tempos de excesso de informação e de carência de sentido, precisamos ouvir mais os mestres — e menos o ruído vazio da pressa digital. Porque sem eles, ficamos órfãos. Mas com eles, mesmo na ausência, sabemos de onde viemos e podemos inventar um amanhã mais inteiro.
Damasceno, Verequete, Vieira e tantos outros e outras nos deixaram o mapa. Cabe a nós não deixarmos esse mapa ser rasgado pelo vento do esquecimento.
As informações apresentadas neste post foram reproduzidas do Site Amazônia Real e são de total responsabilidade do autor.
Ver post do Autor