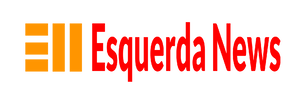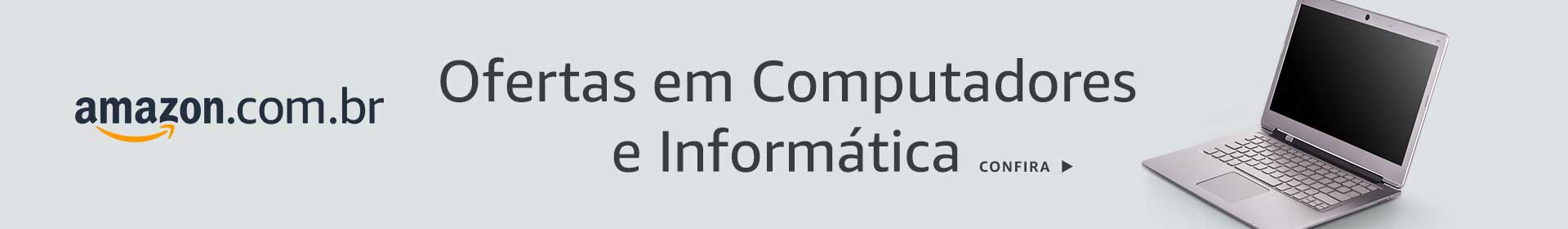Getúlio Vargas cobrou algumas providências dos Estados Unidos para incorporar soldados brasileiros às tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial. Entre as principais, uma usina siderúrgica na região central, que incrementaria a industrialização nacional e assim consolidaria a hegemonia do Sul. E uma infraestrutura social para o Norte, que se materializaria com a instalação, em Santarém, a meio caminho entre Belém e Manaus, de um hospital que seria o melhor da região, além do subsídio à produção de borracha.
Voltando ao poder através de uma eleição direta, em 1950, o ex-ditador daria continuidade à sua visão amazônica instalando um órgão para ser o executor do primeiro planejamento federal na maior região do país. O objetivo era criar conhecimento científico e tecnológico para compreender uma área que, se constituísse um país, seria o 7º maior do mundo.
Esse órgão seria a SPVEA – Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia, implantada em 1953 para executar o plano inscrito na constituição democrática de 1946. O Brasil se comprometia a investir na Amazônia 3% da sua receita tributária líquida para “valorizar” economicamente a parte mais extensa, desconhecida e abandonada do seu território. E só a partir do momento em que está valorização se estabelecesse, com base no conhecimento da área, as novas atividades produtivas seriam selecionadas e apoiadas.
A intenção era correta, mas o que devia ser feito ficou muito aquém do que efetivamente foi feito. Em primeiro lugar, porque nunca foram realmente aplicados os 3% constitucionais. A verba transferida para a SPVEA foi uma pequena parte desse valor. Ainda assim, mal-usada. A elite local, que indicou todos os superintendentes, colocou seus interesses políticos e econômicos acima das diretrizes do planejamento concebido.
Dinheiro em volume muito maior só apareceu para ser destinado a uma criatura surgida do corpo da SPVEA, mas dela independente. A Rodobrás tinha a missão de construir a maior e mais importante rodovia de penetração na Amazônia, a Belém-Brasília, de 2 mil quilômetros de extensão, que permitiu aos habitantes do Pará chegar pela primeira vez por terra ao sertão, no qual emergiria a nova capital federal, Brasília, em 1960. Uma caravana de 14 jipes, já de fabricação nacional, levou os pioneiros para participarem da inauguração da nova capital.
A “valorização econômica” foi parar nos arquivos mortos da história amazônica. A nova diretriz era a do desenvolvimento, inscrita no nome da Sudam, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. A ordem, agora, era “ocupar” para “integrar”, de qualquer maneira, o mais rapidamente que fosse possível, a Amazônia ao Brasil (e ao mundo), para que ela fosse fonte de matérias primas para mercados situados fora dos seus limites.
As duas novas diretrizes, ocupar e integrar, eram jargões geopolíticos, soando como música aos ouvidos dos militares, que comandariam as levas de imigrantes, transportadas por estradas, para povoar os anecúmenos, os desertos demográficos, que tanta cobiça internacional provocavam, na vesga interpretação geopolítica.
Eram previsíveis os grandes efeitos negativos dessa “corrida” ao Norte; para os formuladores desse “modelo”, inevitáveis. Daí o planejamento, antes empenhado em valorizar a terra de destino desses colonos, se transformar em planejamento desequilibrado corrigido. O desequilíbrio era produto automático da intenção de ocupar com rapidez a fronteira. A correção era missão estatal, que Brasília considerou secundária. Daí dar-se no que se deu.
Acompanhei de perto essa mudança. Comecei a carreira jornalística justamente em 1966, quando a Sudam e a sua ferramenta, os incentivos fiscais foram criados. Mas minha relação com o tema foi anterior, remontando a 1959, quando (com 9 anos, vestindo paletó completo) fui à sede da SPVEA, em Belém, acompanhando o meu pai, Elias Pinto, ser empossado na comissão de planejamento do órgão, na presença do governador Magalhães Barata, na sua última aparição pública. Morreria pouco dias depois. Também acompanhei a Caravana da Integração Nacional, que foi a Brasília e, em seguida, ao Rio de Janeiro por terra, uma façanha.
A partir daí, comecei a me interessar pela minha terra. Uma das minhas fontes eram as publicações do serviço de divulgação da SPVEA, que funcionava no Rio, no qual trabalhava o poeta Mário Faustino, que conseguiu projeção nacional. A coleção era uma excelente abertura à história da região. Eu também dispunha de muitas publicações técnicas, que papai trouxe para casa.
Quem percorresse as estradas de penetração ao coração da Amazônia, sangrando até hoje, associaria de imediato essa epopeia à saga dos colonizadores americanos do Velho Oeste, o faroeste. Segui pela mesma trilha. Mas os acontecimentos violentos contra o homem e a terra me levaram para outro rumo, da feroz ocupação da Ásia e da África pelos europeus, que chegaram a dividir entre si, em 1914, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, 90% da África, com seus 30 milhões de quilômetros quadrados. Na Amazônia, os colonizadores são assemelhados, embora falem a mesma língua e pertencem à mesma nação.
Essa percepção se consolidou quando, em 1971, entrevistei o engenheiro Eduardo Celestino Rodrigues, na sede da Fiesp, ainda no viaduto Maria Paula, em São Paulo. Formado pelo famoso IPT da USP, ele era uma das cabeças pensantes da elite paulista. Dono de uma grande empreiteira, a Cetenco, possuía fazenda de gado no sul do Pará. E tinha planos grandiosos para a Amazônia, que influíam sobre o aparato estatal.
Só que os amazônidas não sabiam de nada disso. Eles ainda pensavam que os mais poderosos eram da própria região, citados nas colunas sociais. Quando muito, eles foram se tornando abridores de portas para os bwanas, ou aparavam os restos do banquete servidos aos parceiros do poder central.
Em quase 60 anos dedicados à Amazônia tenho me empenhado em mostrar essa nova realidade, sugerindo temas para que meus leitores incluam nas suas agendas diárias. Só há um jeito de reverter a situação atual, de grande crescimento econômico e sérios problemas sociais: é sabendo tanto quanto o colonizador para obrigá-lo a dialogar – ou um pouco mais, para se antecipar a ele.
Isso exige tempo, dedicação, aplicação e competência extraordinários, que ainda inexistem ou são insuficientes, por falta de recursos financeiros ou vontade política, para que desta vez a Amazônia seja realmente dona da sua história, nesta nova era da energia e não apenas espectadora.
A foto que abre este artigo, mostra o Ex-Presidente Juscelino Kubitschek em cima de um maquinário durante a construção da estrada Belém-Brasília ( Foto: Acervo Arquivo Nacional).
As informações apresentadas neste post foram reproduzidas do Site Amazônia Real e são de total responsabilidade do autor.
Ver post do Autor