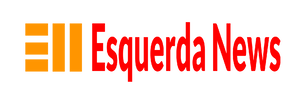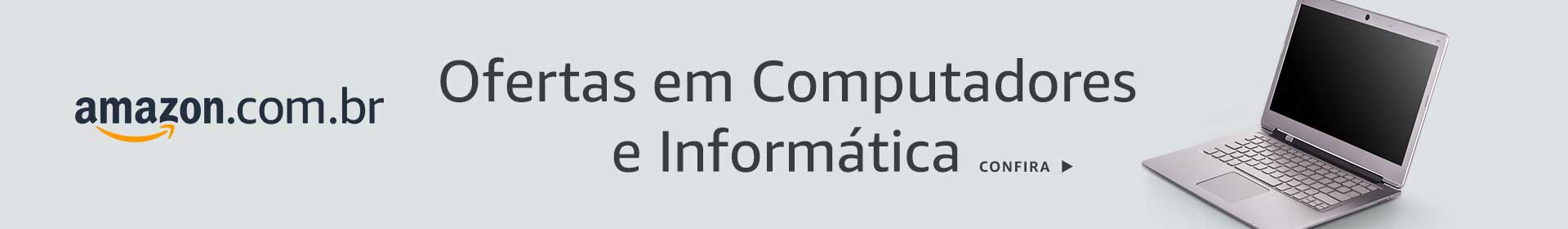Na imagem acima, a curadora Manuela Moscoso (de amarelo) com sua equipe e artistas na vernissage da Bienal (Foto: Ana Dias/CCBA).
BELÉM (PA) – Há tempos em que a arte se torna respiração coletiva, e o que se cria deixa de ser apenas gesto estético para se transformar em anúncio de mundos possíveis. O Pará vive um desses instantes raros: a coincidência entre a Segunda Bienal das Amazônias, conduzida por Lívia Conduru, e a mostra “Vetores-Vertentes: Fotógrafas do Pará”, no CCBB (São Paulo, Brasília e Belo Horizonte), não é acaso, mas sinal de uma ebulição. A Amazônia, tantas vezes reduzida ao silêncio imposto pelos outros, agora fala em primeira pessoa. E nesse caso, fala em voz de mulher.
O tema da Bienal esse ano nasce a partir de um livro — Verde Vagomundo, de Benedicto Monteiro — que não é apenas literatura, mas convite a se perder e se reinventar nos labirintos amazônicos, um clássico da literatura paraense lançado em 1972. Tomando essa obra como guia, a Bienal não se limita a exibir obras; ela fabrica cosmologias, inventa modos de ver e convoca a Panamazônia a ser pensada não como cenário, mas como sujeito. É um chamado para que a Amazônia seja centro e não margem, fonte e não apêndice. A curadoria, conduzida por Manuela Moscoso e sua equipe (Sara Garzón, Jean da Silva e Mônica Amieva) propõe esse mergulho num território em que a arte transborda para espiritualidade, resistência, política e sonho.
A primeira Bienal das Amazônias estreou em Belém, em 2023, com o tema “Bubuia: águas como fonte de imaginações e desejos”. Sob curadoria feminina, trouxe ao público cerca de 123 artistas panamazônicas e centrou sua narrativa nas águas como elemento poético, simbólico e político. A mostra ocupou o Centro Cultural reformado da cidade e espalhou expressões artísticas pela cidade.
Ao apostar em uma curadoria decolonial, expandida e plural, a Bienal recoloca a Amazônia como centro de criação e pensamento, e não como margem exótica de um país que insiste em olhar para cá com filtros coloniais. Sob a direção de Conduru, a Bienal assume um gesto político. O pensar a floresta, a cidade e seus povos como lugares de invenção estética e intelectual, onde arte e vida se confundem. É uma resposta às urgências de nosso tempo e uma celebração da capacidade do Norte de propor novas formas de existir.
Em paralelo, a mostra no CCBB — que reúne fotógrafas paraenses de trajetórias distintas — amplia essa potência ao destacar o olhar feminino sobre a região. São artistas que atravessam épocas, linguagens e suportes, mas que partilham uma sensibilidade em comum, a de traduzir a Amazônia não apenas em sua natureza exuberante, mas em sua gente, suas lutas, sua memória e sua intimidade. O gesto é duplo: afirmar a presença das mulheres na história da arte e reafirmar que a Amazônia se constrói também por meio da lente e da sensibilidade feminina.
Ao percorrer os espaços do CCBB, o visitante será envolvido pelos olhares de precursoras como Leila Jinkings, Bárbara Freire, Walda Marques, Cláudia Leão e Paula Sampaio e as vozes mais contemporâneas de Evna Moura, Deia Lima, Nay Jinknss, Renata Aguiar, Naylana Thiely e Jacy Santos. Mas aqui cabe um pequeno parêntesis necessário. A curadoria dessa exposição cometeu o pecado de inserir (pelo menos em BH foi assim), uma oca um tanto exotizada, onde o visitante, através de óculos especiais, vê e ouve reproduções de som e imagens de rituais indígenas. Aquelas instalações ‘pra inglês ver’, no fundo desnecessárias). Não compromete o todo, mas serve sempre de alerta para nossos sentidos amazônicos.
Fecha parêntesis.
O que une esses dois gestos — a Bienal e a Mostra — é mais do que o território. É a afirmação de que a Amazônia não pode ser traduzida por olhares externos. Ela só se completa de forma intensa, diria até avassaladora, quando é narrada por aqueles que nela vivem, quando se faz carne, corpo, lente, voz. E nesse momento é importante ressaltar as mulheres que se levantam para conduzir essa narrativa. Não como “representação”, mas como eixo. Não como exceção, mas como regra.
Essa confluência entre a bienal e a exposição revela que o momento da cultura amazônica pode e deve ser antes de tudo um espaço com toda a pluralidade necessária para outras vozes atentas ao aqui e agora. Mulheres curadoras, artistas, pensadoras e produtoras culturais nos devolvem a Amazônia como território múltiplo e transitivo — lugar de elaboração estética e política, vivacidade poética e resistência ancestral. Não se trata apenas de representatividade — embora seja disso também —, mas de autopreservação narrativa. Contar a nossa história, ecologia e subjetividades por nós mesmos. A coincidência desses dois instantes culturais não é mero acaso, mas sintoma de um tempo em que o Pará se coloca em diálogo com o mundo a partir de suas próprias vozes.
O Pará, tantas vezes lembrado apenas por suas festas populares ou por sua condição de “extremo” geográfico, agora se revela como lugar de efervescência cultural. Algo que no fundo não deveria ser novidade. Um território capaz de criar arte que é ao mesmo tempo universal e profundamente enraizada, ancestral e tecnológica, íntima e coletiva. Não é coincidência que Belém seja a sede da COP30. Há algo de simbólico em ver a cidade se tornar palco de debates globais sobre o futuro, enquanto sua cena cultural anuncia, por meio da arte, que esse futuro passa por aqui.
É nesse pulsar que o Pará assume sua potência — não apenas como ponto de vista regional, mas como incubadora de linguagens que dialogam com o mundo circulante: arte, ciência, governança climática. O que vemos é uma Amazônia-poder, tecendo diálogos entre gerações, formatos e territórios. Um momento histórico em que o Pará reaparece no circuito cultural nacional — sim, como protagonista — ancorado em um pensamento que não se reduz, recusa invisibilidade e inaugura narrativas. Aqui, o tempo encontra pulsação poética. Arte que imaginou, que sentiu, que ferve sentimento e transforma.
Recentemente, num programa de entrevistas, Dira Paes fez questão de lembrar isso. O fato de o Pará já ter sido ‘capital cultural’ desse país. O Brasil até pode esquecer esse detalhe. As pessoas paraenses não. O futuro, quando vier, terá sotaque daqui. E que ninguém jogue ‘psica’ sobre nós nesse momento.
As informações apresentadas neste post foram reproduzidas do Site Amazônia Real e são de total responsabilidade do autor.
Ver post do Autor