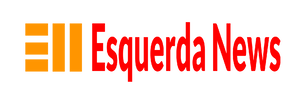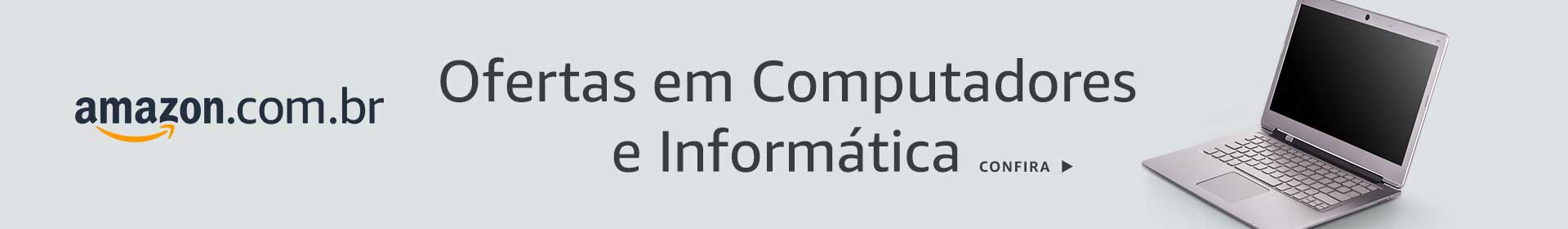Índice
TogglePaulistano, pianista, escultor, poeta, geólogo, pesquisador, fotógrafo, editor, autor e documentarista. Adriano Gambarini é, acima de tudo, um viajante e observador da relação do homem com o meio ambiente. Capta imagens que encantam e emocionam. Viajou pelos seis continentes, publicou 18 livros, está com a série Rastro dos Bichos, na TV Brasil, com a exposição de fotos Terra Incógnita na galeria Frattina, em São Paulo, e muitos projetos na cabeça. Fotógrafo referência na conservação e pesquisa conversou com ((o))eco quando chegava de mais uma viagem à Amazônia.
“Eu sempre procuro trazer as coisas boas nas minhas imagens. Se me perguntarem se tenho registros de garimpos, desmatamentos, queimadas, tenho. Fotografo também, mas existem duas formas da gente trazer aliados para a conservação: através da beleza ou da desgraça. A desgraça, o jornalismo já apresenta de uma forma muito boa, que é um pouco o papel dele. Eu sempre vou atrás da beleza, que é o que me chama a atenção. Sempre o superlativo, aquela imponência que a floresta tem. Seja na dimensão dos rios, das árvores, seja na solidariedade das pessoas que estão ali. Se você entrar numa comunidade da Amazônia, será bem recebido, as pessoas terão cuidados com você. Existe um conceito de solidariedade muito grande. Isso me chama atenção, me emociona.”

Com uma família de viajantes, Gambarini já foi mochileiro, fotografou os seis continentes e tem planos de um livro sobre a África. Das viagens realizadas e das que virão. Começou a se interessar pela fotografia em 1988, quando entrou para a faculdade de Geologia e conheceu as cavernas.
“Profissionalmente, comecei a fotografar em 1991, quando estava saindo da caverna, me formando em Geologia, fui trabalhar numa revista”. A arte sempre esteve presente em sua vida e hoje reflete em seu trabalho. “Toquei piano clássico durante 12 anos, tenho dois livros de poesia. Durante alguns anos me envolvi com escultura.Tenho mais livros de arte do que fotográficos. Sempre gostei de arte, não sou um artista no sentido de fazer quadros. Tive dois anos de aulas de escultura com um escultor português que morava no Brasil na época.
Meu pé na arte está na fotografia. Fui estudar fotografia como uma forma mais documental de registrar as cavernas em que eu trabalhava. E o meu pé na ciência como pesquisador acabou me levando praticamente a só trabalhar com esse tipo documental, científico, nesses 32 anos, mas sempre que eu posso, eu tento trazer um olhar um pouco mais artístico na fotografia documental. Eu sempre tento buscar um valor estético junto. Vou para a Amazônia, por exemplo, e fotografo tanto a parte boa quanto os problemas ambientais. Estou lá, vejo um desmatamento, faço o registro. Na minha trajetória na fotografia documental, eu sempre busquei uma linguagem estética.”


Povos indígenas e conservação
Adriano Gambarini teve o primeiro contato com povos indígenas da Amazônia em 1999, para a produção de um livro de arte que reproduziu uma expedição de 1820. Em vinte e cinco anos de trabalho na região, já fez imagens de queimadas, garimpos, mas seu foco é a beleza e a relação dos povos com o meio ambiente.
“Noventa e nove por cento dos povos com quem eu trabalho são da Amazônia, onde sou fotógrafo há mais de 25 anos e digo que se tem alguma unidade de conservação capaz de manter a Amazônia são as terras indígenas. O que eu sinto sobre esses povos, sem romantismo, é que eles moram na terra deles, querem só a regularização. Têm parques estaduais ou federais que mantêm a parte conservada, conservam alguns biomas, mas de um modo geral, acho que as áreas indígenas têm um poder de conservação maior. Elas por terem as pessoas morando ali dentro, que tem que ser parceiro para conservar, colaboram. Um parque nacional, por exemplo, está na lei que o parque não pode ter ninguém morando lá dentro. Um parque que você tem 3 ou 4 funcionários cuidando de uma área dessa é uma coisa. Uma área enorme, numa terra indígena que tem um povo morando ali é outra coisa em termos de manutenção, conservação e vigilância daquela área. É uma equação simples.”


A emoção captada na interação do homem com o ambiente
“Eu sempre procuro trazer as coisas boas nas minhas imagens. Se me perguntarem se você tem registros de garimpos, desmatamento, queimadas, tenho. Fotografo também, mas existem duas formas da gente trazer aliados para a conservação: ou através da beleza ou da desgraça. A desgraça o jornalismo já apresenta de uma forma muito boa, que é um pouco o papel dele. Eu sempre vou atrás da beleza que é o que me chama atenção. Sempre o superlativo, aquela imponência que a floresta tem, seja na dimensão dos rios, das árvores, na solidariedade das pessoas que estão ali. Se você entrar numa comunidade da Amazônia será bem recebido, as pessoas terão cuidados com você. Existe um conceito de solidariedade muito grande. Isso me chama atenção, me emociona.”
O fotógrafo é um especialista nos registros do homem interagindo com o meio ambiente

“Comecei a trabalhar em caverna, um ambiente inóspito, aonde pouca gente vai. Depois comecei nas expedições científicas, onde eu tinha entrada em diferentes biomas, um grupo específico de pesquisadores. Eu sempre tive um caminho muito solitário. Mas quando comecei a trabalhar com os povos, seja na Amazônia, na Caatinga, no Cerrado, e passei a me envolver com a história de vida daquelas pessoas, percebi que você pode fazer uma viagem isolada, de não encontrar ninguém, mas ao mesmo tempo quando você encontrar alguém, percebe que o ser humano está inserido em qualquer ambiente do planeta. Comecei a perceber que no momento em que eu trago o elemento humano, de alguma forma, eu humanizo o lugar no sentido de mostrar para as pessoas. Quando eu mostro uma casinha e uma figura discreta, a silhueta dela, parece que o leitor da imagem se solidariza. Se eu for mostrar a foto para uma pessoa que não tem nada a ver com esse mundo da conservação e tiver esse elemento humano, tenho a sensação de que a pessoa se comove mais. Nos meus últimos 10 anos de trabalho na Amazônia, grande parte de minhas idas para lá foram para trabalhos indigenistas.”
Do analógico para o digital surgiu o documentarista
“Quando comecei a fotografar era tão distante esse universo do documentário. Primeiro por uma questão tecnológica, os equipamentos na época do filme, você tinha os equipamentos de filmagem que eram outro universo em tamanho, preço e eu era um fotógrafo. Eu comecei minha vida profissional numa revista de pesca esportiva, em 1991. Tinha um programa na televisão e uma revista e eu viajava com a equipe de filmagem que fazia o programa da televisão. Numa dessas viagens, um cinegrafista que viu meu trabalho, com uma intenção mais estética, me incentivou a filmar. E eu comecei a trabalhar com filmagem por uma demanda do mercado. Hoje minha câmera faz um filme que pode passar no cinema, por exemplo. A tecnologia permitiu isso. Hoje eu sempre sou chamado para fazer foto e vídeo. Na pós produção eu conto com outros profissionais. Quando vou fazer um livro, tem que ter um designer junto, um outro olhar só engrandece o produto final”.
“Eu brinco que a fotografia está ficando meio vintage. O mercado mudou, o digital provocou essa transformação.”
Com 18 livros publicados, Adriano Gambarini diz que cada produção tem seu tempo. “Depende de uma série de fatores. O de caverna, que hoje é uma referência bibliográfica, demorou 18 anos para ser concluído. Fui acumulando material sem pressa. Lembro que quando publiquei, o editor disse que ia ser referência no assunto porque tinha muito conteúdo, texto e pesquisa. Outro livro que fiz sobre onça em parceria com um especialista no assunto é referência e eu demorei 15 anos para fotografar. Sem pressa. Eu ia para expedições em fotografia, para viagens e fazia os registros até conseguir patrocínio. A dificuldade de publicar um livro fotográfico no Brasil, onde a parte gráfica é muito cara, é grande. Eu tenho que me beneficiar de leis culturais para publicar. Mas já fiz um livro em um ano que era uma coisa muito objetiva, focada. Fui contratado. Fui lá, documentei e ponto final. Tem outra abordagem, conteúdo e densidade.”

Uma onça na trilha amazônica
Gambarini tem a tranquilidade do observador nas matas. Tem registros fotográficos e documentários que registram o cotidiano de onças. Como lidar com o medo diante do desconhecido? A resposta vem da experiência e convivência com a fauna brasileira. “Existe um imaginário: o desconhecido. Quando entro no mato eu fico atento. Mas tenho certeza de que eu já andei uma trilha, em algum lugar na Amazônia, que eu passei do lado de uma onça, e ela simplesmente me ignorou. Tenho certeza disso porque se a onça quiser te pegar, você não vai ver o animal, porque é um predador. O instinto do predador é a surpresa. No momento que estou andando, vejo a onça e tenho a possibilidade de fotografar, porque ela não está nem aí pra mim. Existe muito mais exagero e fantasia do ser humano do que realidade. Se a gente for pensar instintivamente, existe esse conceito de vencer o predador. O homem tem que ir lá matar a onça porque ela é a predadora. Isso é mais instinto animal do que real. Eu não tenho medo porque eu sei que é uma forma de transitar. Cobra a mesma coisa, todo mundo tem medo. Se você estudar um pouco mais, vai saber que ela só te pica em última instância porque não é vantagem para a cobra gastar veneno com você, sabendo que ela não vai te comer. Ela precisa do veneno para pegar uma presa. A gente sabe por estudos que a última alternativa dela é te picar. Isso é bobagem do ser humano de querer superlativizar os problemas”, diz.
Registros nos seis continentes

Viajante apaixonado, Adriano Gambarini já fotografou os seis continentes e destaca a beleza em cada um deles. “O melhor lugar para fotografar depende muito. Se eu for para a Ásia, instintivamente eu vou atrás da ancestralidade, porque é um continente velho, em termos de história humana. Se eu for para a África, vou atrás da natureza, mas também tem os povos tradicionais que mexem muito comigo. Aqui no Brasil, se você me pedir para escolher biomas no Brasil, um deles será a Caatinga, porque eu acho um lugar fascinante pela capacidade resiliente dela de se transformar todo ano. Parece que está morta, mas basta uma chuva que ela rebrota. A Mata Atlântica pela delicadeza dela, eu brinco que se for comparar a Amazônia com a mata atlântica eu digo que a Amazônia é superlativa porque tudo é grande, gigante e a mata atlântica é delicada, tem um nível de detalhamento e delicadeza muito grande.”
Com um acervo fotográfico que não consegue avaliar o tamanho atual dele, Gambarini diz que desde a chegada do digital parou de contar. “De filme eu confesso que parei [de contar] os filmes em 2006, quando fiz um trabalho para o Ministério do Meio Ambiente sobre a revitalização do rio São Francisco e não encontrei mais filme para vender, estava em falta. Até 2006, já estava próximo dos 450 mil slides. Aí quando entrei na era digital, perdi a conta. No acervo virtual eu tenho pouco material, mas tem muito em cromo que aguarda digitalização”, explica. Artista que capta emoção na interação do homem com o meio ambiente, Gambarini vive na expectativa da próxima imagem. “O processo criativo é permanente. Toda vez que volto do campo, dá duas horas eu me pergunto porque não fiz determinado clique. No momento em que a pessoa fala ‘eu sei’, ela para de evoluir, morre. O ‘eu sei’ mata o ser humano. A curiosidade para mim é o carro-chefe de qualquer vivência na nossa jornada”.
“A fotografia não é o que você vê, mas o que carrega dentro de si. A fotografia é o acúmulo das coisas que você vive. Eu segui a carreira da fotografia de campo porque sou de uma família de viajantes. Desde pequeno eu viajo e isso me condicionou a estar na estrada. As pessoas perguntam : ‘você não cansa?’. Não canso porque é o que me alimenta a vida, a alma. Fiz umas fotos de manejo do fogo e percebi um craquelado que me lembrou Monet. Sempre gostei de arte e tenho uma estética com relação a Monet muito profunda. A fotografia é você e tudo que acredita”, finaliza.


As informações apresentadas neste post foram reproduzidas do Site O Eco e são de total responsabilidade do autor.
Ver post do Autor