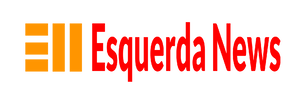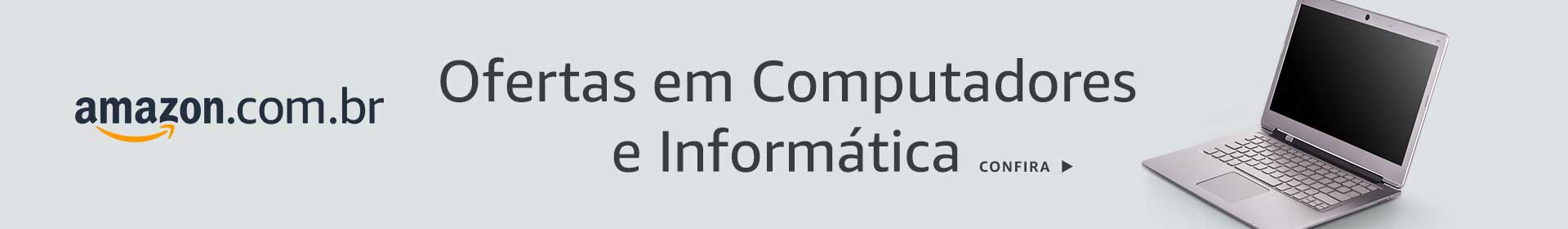Na imagem acima, parte da infraestrutura do projeto de pesquisa AmazonFACE, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), próxima a Manaus (AM) (Foto: G20/18.09.2024).
Belém (PA) – Nos últimos anos, a floresta amazônica tem enfrentado não apenas o avanço do desmatamento, da mineração e do agronegócio, mas também os impactos invisíveis, porém profundos, das políticas externas de grandes potências globais — em especial dos Estados Unidos sob os dois mandatos de Donald Trump. Embora formuladas a partir de uma retórica interna de soberania econômica e nacionalismo protecionista, as medidas adotadas por Trump desde 2017 — e intensificadas com seu retorno à presidência em 2025 — reverberam diretamente sobre a ciência feita na Amazônia, minando estruturas de cooperação, dificultando a produção de conhecimento e enfraquecendo iniciativas de preservação baseadas em evidência científica.
Durante seu primeiro mandato, Trump promoveu um verdadeiro desmonte da agenda ambiental e científica nos Estados Unidos. A saída do Acordo de Paris, os cortes orçamentários drásticos em agências como a NASA e a NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica)- agência científica do governo dos Estados Unidos vinculada ao Departamento de Comércio, que atua no monitoramento e pesquisa dos oceanos, atmosfera e clima; a fragilização da EPA (Agência de Proteção Ambiental), principal órgão federal responsável pela regulamentação ambiental nos Estados Unidos, e a negação explícita da existência das mudanças climáticas impactaram toda a cadeia global de produção de conhecimento sobre o meio ambiente.
A Amazônia foi especialmente atingida, não apenas pela redução da oferta de dados climáticos e satelitais — fundamentais para o monitoramento do desmatamento e da biodiversidade — mas também porque esse negacionismo inspirou políticas semelhantes no Brasil, como se viu no governo Bolsonaro, que seguiu a cartilha trumpista de descredibilização da ciência, perseguição a pesquisadores e desmonte de órgãos ambientais. Essa simbiose entre os discursos permitiu que setores hostis à conservação tratassem a ciência como inimiga do progresso, e que agendas de devastação territorial fossem apresentadas como “desenvolvimento”.
Com a volta de Trump à Casa Branca em 2025, o cenário se agravou, ainda que com novos contornos. O negacionismo deu lugar a uma política de guerra comercial explícita, baseada em tarifaços, fechamento de fronteiras econômicas e reestruturação de cadeias produtivas globais. Em nome da “autossuficiência estratégica”, os EUA passaram a pressionar pela ampliação de sua capacidade interna de suprimento em setores como farmacêutica, energia, tecnologia e alimentação. Isso afeta diretamente a Amazônia, com a possibilidade- ou risco, como queiram- de gerar uma corrida acelerada por recursos estratégicos — como minérios raros, plantas medicinais, proteínas vegetais e áreas de produção agroexportadora. Nos últimos anos, empresas multinacionais, muitas com sede nos EUA ou com interesses vinculados ao mercado norte-americano, passaram a mirar ainda mais a floresta como território de exploração. Em consequência, a ciência — entendida como sistema de conhecimento independente, crítico e voltado ao interesse público — perdeu espaço frente aos interesses imediatos de extração e lucro.
Outro impacto direto da nova postura americana é a fragmentação das redes de pesquisa científica internacional. O aumento das tarifas e o nacionalismo econômico geram instabilidade nos fluxos de financiamento, dificultam colaborações entre universidades, podem limitar o acesso a bolsas de pesquisa e desestimular a participação de cientistas estrangeiros em projetos de campo na Amazônia, ou a de ida de cérebros para os Estados Unidos a fim de aprimorar estudos. A instrumentalização política da ciência como instrumento de “soft power” geopolítico passou a se sobrepor ao ideal de colaboração multilateral. Paralelamente, cresceu nos Estados Unidos um discurso de securitização da floresta amazônica, impulsionado por think tanks conservadores e setores ligados ao Departamento de Defesa. Sob a justificativa de combater o narcotráfico, impedir o avanço da China e garantir a “governança ambiental”, ressurge, aqui e ali, de forma mais explícita ou não, a tese da internacionalização da Amazônia — não como projeto ambiental, mas como vigilância estratégica. O risco, nesse cenário, é o de transformar a ciência em arma geopolítica, usada para mapear recursos, monitorar populações e justificar interferências.
Em termos epistêmicos, o efeito talvez mais preocupante seja o avanço do que estudiosos chamam de epistemicídio: a negação sistemática de saberes não hegemônicos, a invisibilização das formas locais de produzir conhecimento, e a desvalorização da ciência feita por e para os povos da floresta. Ao submeter a Amazônia às lógicas do mercado global, à competição tecnológica e ao nacionalismo protecionista, os dois governos Trump contribuem para uma forma de colonialismo científico que não se limita à extração de recursos, mas à própria apropriação dos modos de pensar, conhecer e nomear o território. A biopirataria de compostos naturais, a apropriação de saberes indígenas e o mapeamento genético sem consentimento, como já visto antes na história, são apenas uma ponta visível de um fenômeno mais amplo: a disputa pelo controle dos futuros possíveis da floresta.
Apesar de tudo, há resistências. Há cientistas amazônicos se articulando com universidades públicas, movimentos sociais e comunidades indígenas para construir uma ciência decolonial, autônoma e conectada com os saberes ancestrais. Iniciativas de ciência cidadã, observatórios populares do clima, plataformas de dados soberanos e cooperação entre países do Sul Global podem indicar que a ciência tem condições de ser feita fora da órbita das grandes potências. No entanto, para que essa virada se consolide, é preciso ação estatal. Estados nacionais da Pan-Amazônia precisam investir em infraestrutura científica própria, formar pesquisadores locais, proteger os dados gerados na floresta, regulamentar o uso de conhecimentos tradicionais e impedir que interesses estrangeiros ditem as prioridades da pesquisa.
A ciência feita na Amazônia não é apenas uma questão acadêmica — ela está no centro de uma batalha entre projetos civilizatórios. De um lado, um modelo que vê a floresta como fonte de lucro e laboratório a céu aberto para o avanço tecnológico global. De outro, uma perspectiva que reconhece a Amazônia como território vivo, habitado por saberes diversos, portador de direitos e produtor de alternativas. As políticas de Trump, com seu negacionismo climático, seu isolacionismo científico e seu autoritarismo comercial, representam uma ameaça concreta ao segundo modelo. Por isso, a defesa da ciência na Amazônia é, hoje, inseparável da luta por soberania, por justiça ambiental e pela possibilidade de imaginar outros futuros possíveis — menos destrutivos, mais plurais e verdadeiramente enraizados na floresta. Nesse sentido, cabe uma pergunta atual e para 2026. Como os postulantes aos governos estaduais amazônicos e os futuros presidenciáveis pensam o futuro do saber e da ciência na Amazônia? Essa é a questão que talvez não seja feita em debates, mas vai se impor diretamente a nós, amazônidas.
E enquanto finalizava esse texto veio a notícia de que, na calada da madrugada, como convém a ratos e baratas (com todas as desculpas a essas duas espécies), o pior Congresso Nacional da história aprontava mais uma contra nosso futuro. Aprovadas, as mudanças na legislação ambiental costuradas pelos ‘nobres’ deputados, não representam apenas uma derrota política para o governo federal ou uma vitória circunstancial da bancada ruralista, como sempre enfatiza a mídia tradicional, em sua estreiteza de visão. São, acima de tudo, uma sentença de morte ao meio ambiente brasileiro, um golpe calculado contra o futuro das florestas, da biodiversidade e das populações que vivem em equilíbrio com a natureza. O simbolismo é trágico e perverso: no mesmo ano em que o Brasil sediará a COP 30, maior conferência climática do planeta, o país envia ao mundo a mensagem oposta à que deveria ecoar de Belém do Pará – a de que o desenvolvimento pode e deve ser sustentável.
As mudanças aprovadas desmontam pilares históricos da proteção ambiental no Brasil. A flexibilização de regras para licenciamento ambiental, o enfraquecimento de órgãos de fiscalização como o IBAMA e o ICMBio, e a anistia disfarçada a desmatadores ilegais consolidam um ambiente de impunidade e de incentivo à devastação. Territórios indígenas e comunidades tradicionais, muitas delas responsáveis por preservar extensas áreas verdes, se tornam ainda mais vulneráveis diante da sanha predatória do agronegócio mais atrasado e de setores da mineração.
Essa não é uma disputa técnica nem apenas jurídica. É uma batalha ideológica e econômica que opõe visões de país: de um lado, aqueles que acreditam na modernização com justiça ambiental e climática; do outro, os que, ancorados em um modelo extrativista de curto prazo, tratam a natureza como obstáculo à expansão de seus lucros. A aprovação dessa nova legislação dá sinais de que o segundo grupo venceu mais uma vez — e, com ele, venceu a política do retrocesso.
As consequências poderão ser irreversíveis. Já podemos ler em diversos espaços na mídia especialistas alertando que o novo arcabouço legal pode acelerar o avanço sobre a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, empurrando biomas inteiros para além de seus limites de regeneração. Isso afetará o regime de chuvas, a produção agrícola sustentável e a qualidade de vida urbana. Não será apenas o Brasil a sofrer – o planeta inteiro sentirá os efeitos de uma nova onda de destruição no país que abriga a maior floresta tropical do mundo.
Ao ceder à pressão da bancada ruralista, o Congresso contraria não apenas as diretrizes ambientais do governo eleito, mas também a expectativa de parte significativa da comunidade internacional, que ainda vê no Brasil um ator central no combate à crise climática. A incoerência entre o discurso do país anfitrião da COP 30 e sua prática legislativa interna mina a credibilidade brasileira e fragiliza os compromissos assumidos nos acordos internacionais.
O Brasil poderia, neste momento histórico, liderar pelo exemplo. Mas escolheu, por meio de sua maioria parlamentar, seguir no caminho contrário. A aprovação das mudanças na legislação ambiental não é um detalhe político: é um marco trágico que compromete a imagem do país, atenta contra as gerações futuras e transforma a COP 30 em um evento cercado por um paradoxo insustentável. É como acender a tocha do clima em meio aos escombros de uma floresta em chamas.
As informações apresentadas neste post foram reproduzidas do Site Amazônia Real e são de total responsabilidade do autor.
Ver post do Autor