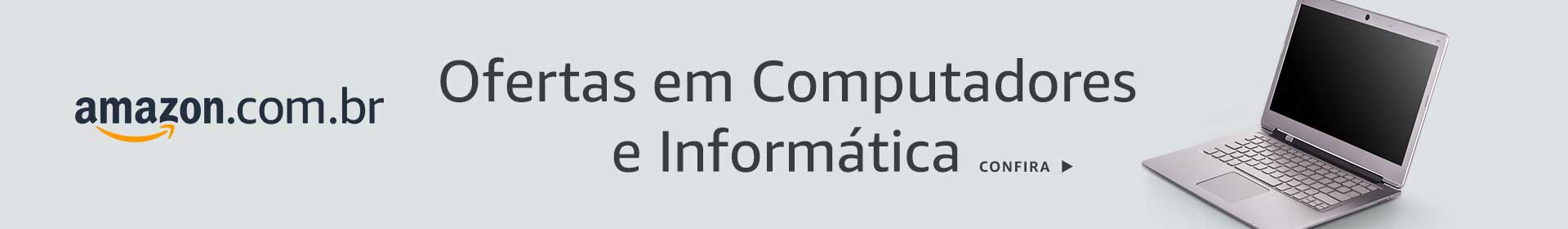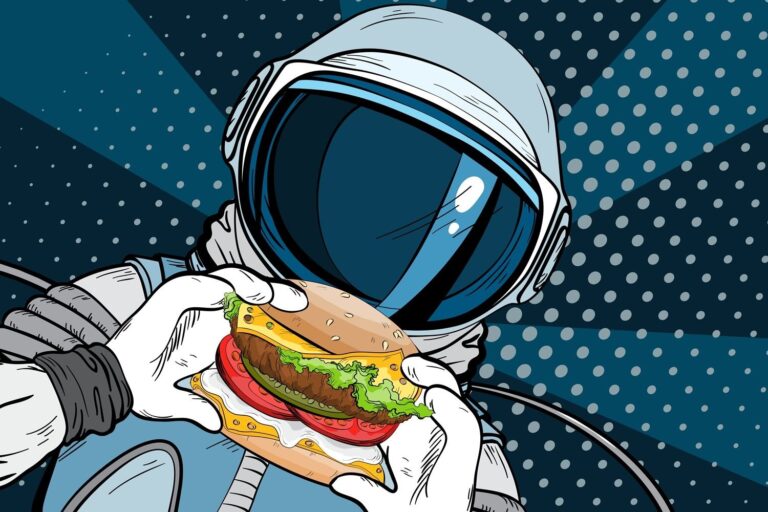Cinco anos atrás, comuniquei aos meus leitores que fui diagnosticado com Parkinson, mas que a doença deveria ter se instalado pelo menos 10 anos antes. Anunciava que estava encerrando minha carreira jornalística para me poupar dos efeitos negativos da minha atividade, exposta a tensão, stress, ansiedade e depressão. Ia também tentar realizar projetos pessoais, frustrados pela dedicação integral que o exercício do jornalismo crítico me impunha, enquanto ainda tivesse condições psíquicas e físicas.
A partir daí, variei entre os extremos; ora confirmando o encerramento do meu último front, neste blog, ora o restabelecendo, ora me afastando da cobertura diária para tratar de temas culturais. Esse comportamento era ditado pela minha angustiante indecisão. O jornalismo foi – e ainda é –a minha vida. Não o escolhi: ele é que me escolheu e se impôs a tudo mais que eu pretendia ser e fazer.
Em 1966, quando me profissionalizei, aos 16 anos, estava encaminhado para ser um intelectual cosmopolita, dedicado às ciências humanas e sociais, com ênfase na literatura, na sociologia, na história e na política. Estava terminando meu curso de inglês no CCBEU e de francês na Aliança. Depois de ler os livros que me interessavam na boa biblioteca do meu pai, comecei a comprar meus próprios livros, aos 12 anos.
O meu ingresso em A Província do Pará, acidental, deu continuidade ao que eu já fazia, escrevendo jornais de um único exemplar, composto em uma máquina de datilografia, e, em seguida, com 100 exemplares impressos em mimeógrafo. De O Social passei a O Combate, distribuídos no clube de jovens da paróquia da Trindade, do qual fui presidente.
Ter começado em 1966 foi um acaso fatal. Nesse ano começaria uma das maiores e mais trágicas conquistas de fronteira da história, comandada pelos principais ideólogos da guerra fria no Brasil, os oficiais superiores do exército (de origem “tenentista”, feiticeiros da democracia relativa e guerreiros repressores da subversão interna), acantonados na Escola de Superior de Guerra, no Rio de Janeiro.
Nesse ano eles criaram a Sudam, o Basa, a legislação dos incentivos fiscais e um aparato administrativo e policial para fazer a Amazônia crescer aceleradamente e se conectar aos mercados nacional e internacional em condição colonial, de dependência e sujeição.
Em 1966, cientistas de todo mundo dedicados a estudar a Amazônia se reuniram em um simpósio internacional em Belém para comemorar o centenário do Museu Emílio Goeldi, a mais importante e antiga instituição científica da região.
Entrevistando esses pesquisadores aprendi que seria impossível entender o que acontecia diariamente na Amazônia sem olhá-la de fora e absorver os conhecimentos gerados em outros países, principalmente os anglo-saxões (mas também contando com países europeus coloniais, como França, Bélgica, Alemanha e Portugal, nosso esperto avozinho.
Com a energia da juventude, me dividi entre meus anseios mais pessoais (de ir para universidades da Europa e dos Estados Unidos) e o chamamento da voz amazônica, que começava a ser censurada, hostilizada, reprimida. Um pé nas minhas leituras acadêmicas e outro no caminhar pela vasta região para ver o que realmente acontecia.
Dedicando nunca menos de 10/12 horas a essa composição, escrevia matérias jornalísticas pautadas para o repórter com colunas, nas quais podia opinar. Saí de Belém, voltando e indo embora conforme a minha curiosidade exigia.
Antes de me estabilizar em São Paulo, criei um caderno de cultura em A Província, depois o Bandeira 3, ambos trabalhos de equipe. Já na capital paulista, passei a ocupar uma página dominical, enviando para Belém o meu primeiro Jornal Pessoal.
No final de 1974, angustiadamente dividido entre várias opções pessoais e profissionais, acabei decidindo voltar definitivamente a Belém. Ainda convencido sobre a imperiosidade de me manter ligado ao exterior, percebi, no entanto, que precisava estar próximo das frentes econômicas que penetravam nas áreas isoladas da Amazônia, nas suas terras altas, onde se concentravam suas riquezas de subsolo e o potencial de energia nos rios.
Criei então o meu maior projeto de jornalismo coletivo, o novo Bandeira 3, jornal semanal de 24 páginas, que se propunha a entestar com a grande imprensa. Foram sete números apenas, mas mostraram a todos, os que liam e os que faziam jornais, como se podia encarar o desafio da saga amazônica.
Para mim, que passei os cinco meses seguintes trabalhando para pagar a dívida com a gráfica de O Liberal, uma conclusão: a única saída viável para uma publicação verdadeiramente alternativa e crítica era fazê-la sozinho, para evitar os custos, e não aceitar publicidade, para manter a sua independência.
Em 1975 mesmo ainda tentei um projeto coletivo, com a criação de uma sucursal amazônica de O Estado de S. Paulo, com repórteres em todas as capitais amazônica (os melhores, com os maiores salários da praça e contratados pela empresa), cinco deles em Belém, que seria a sede. Digo sem receio de errar que foi o período de melhor cobertura da Amazônia na imprensa brasileira. Ninguém, a sério, pode escrever sobre esse período na região sem ir às páginas do Estadão. Nem os jornais locais nem o governo militar sabia mais sobre a Amazônia do que o jornal paulista conservador (e, em certa medida, plutocrata).
Essa foi a minha última tentativa de cobrir a Amazônia com seriedade na grande imprensa. Em seguida, foi a vez do Informe Amazônico, que sobreviveu em 12 edições, em 1980, no formato de carta (a newsletter), impresso numa velha e já quase extinta tipografia.
Mas o alcance era pequeno. Decidi então aproveitar minhas ligações no Estadão e me dedicar a viajar por toda região, criando minhas pautas ou me transferindo imediatamente aos locais dos acontecimentos importantes.
Acredito ter sido o repórter que mais andou pelos caminhos amazônicos entre 1971 e 1989, graças ao apoio de Júlio Mesquita Neto, um dos donos do jornal, e ao meu chefe na redação paulistana, Raul Martins Bastos. Sem esquecer o decidido apoio de Romulo Maiorana, em O Liberal e na TV Liberal até a sua morte, em 1986.
Essa história atingiu seu momento mais dramático quando, aos 38 anos, em 1987 lancei o Jornal Pessoal, quinzenário, 12/16 páginas, que foi para as bancas e, nelas, era o mais vendido, além de ter algum impacto nacional e internacional. Foi a mais duradoura e importante das publicações alternativas que criei ou das quais participei. Os 32 anos que durou me custaram muito caro. Caríssimo.
Em primeiro lugar, empobreci. Para dar dedicação exclusiva e integral ao JP, me demiti de O Estado de S. Paulo, após 18 anos de trabalho contínuo. Com a indenização, montei um esquema de assinaturas, que chegou a ter 1.200 inscritos numa época em que O Liberal tinha 800. Mas se recusando a receber publicidade, o jornal nunca daria lucro.
Deu foi muita dor de cabeça. Fui processado na justiça 34 vezes por 3 dos 7 irmãos Maiorana (Romulo Jr., Ronaldo e Rosângela), o empresário Cecílio do Rego Almeida, os desembargadores João Alberto Paiva e Maria do Céu Cabral Duarte, o madeireiro Wandeir Costa e os políticos Edmilson Rodrigues e Éder Mauro (também delegado de polícia).
Fui seguidamente ameaçado de morte e agredido três vezes, a mais grave das agressões cometida por Ronaldo Maiorana. Sofri o que hoje se diz ser abuso moral. E por aí foram situações desconfortáveis e perigosas.
Terminei o Jornal Pessoal em 2019, esgotado fisicamente, psicologicamente e financeiramente. Como tinha certeza desse fim, em 2014 criei este blog e outros três (sobre a cabanagem, a mineradora Vale e um banco de dados). O surgimento do Parkinson foi o alerta definitivo. Era hora de parar tudo. Mas não parei. Embora cada vez mais isolado, abandonado, ignorado.
Nestes mais de 9 anos, escrevi mais de 15 mil matérias e de 30 mil comentários. Talvez seja o jornalista que mais leu diários oficiais no mundo, A partir da leitura dessas difíceis fontes de informação, denunciei o desvio de dinheiro público e uma série de crimes praticados pelo aparato estatal.
Fiz campanhas, a maior delas para que um pet-scan, aparelho de diagnóstico precoce de câncer, encaixotado há sete anos no hospital estadual de referência de câncer, comece a funcionar, para atender o povo.
Com tristeza e indignação, constato a alienação, o desinteresse geral da população, que é criminoso no caso das autoridades públicas e revoltante tratando-se dos intelectuais. De queridos amigos, que sei competentes, até hoje não recebi uma mensagem; e o que dizer de contribuições, que nunca deram?
Permanentemente peço que profissionais com competência em determinadas áreas vitais para o nosso Estado e região façam sua abordagem para ajudar a esclarecer questões aqui suscitadas – e eles nada fazem.
Decidi dispensar essa parceria, que me seria valiosa, ignorando os meus projetos pessoais, que, aos 74 anos, com Parkison e outras doenças, provavelmente não realizarei. Quando a doença se confirmou, temi que meus dias seriam abreviados e me dediquei totalmente a processar todos os dados de documentos oficiais que eu consultara no arquivo público do Pará, entre 1967 e 1975. Finalmente, foram identificados os participantes da cabanagem, eliminando uma lacuna fundamental para o entendimento da guerra popular contra o domínio colonial português.
O livro que escrevi, Cabanagem, o massacre, com 354 páginas, só encontrou apoio em Manaus, com as amigas Kátia Brasil e Elaíze Farias, da agência Amazônia Real. Esse livro destinou-se a ser obra de referência, mas os historiadores a ele não se referiram, sobretudo os que se consideram os donos da cabanagem, aferrados a suas interpretações e afirmações, várias delas destituídas de fundamentação em documentos originais correspondentes.
Colocada no ar essa listagem, com os dados de identificação e qualificação de quase 2 mil cabanos, agora eu teria que me entregar ao trabalho complementar, de análise dos dados brutos. Provavelmente não conseguirei dar esse passo, como vários outros mais.
As dificuldades são de toda ordem, incluindo-se uma demonização do meu nome, agravada por minhas críticas ao PT, à esquerda, a Lula e eventos, como aquele curso realizado na Universidade Federal do Pará (UFPA), para convencer os seus participantes que a ex-presidente Dilma Rousseff fora vítima de um golpe político, tirando-a do cargo. Só os intelectuais defensores dessa tese participaram do curso, sem a diversidade e a pluralidade que lhes deveria impor uma universidade realmente democrática.
No mesmo dia em que havia aula no tal curso, a professora Marly Silva, da mesma UFPA, organizou um debate para comemorar os 30 anos do JP. Nenhum dos meus caros amigos esteve presente, nem daqueles que me criticam em alcovas e bastidores, mas se recusam a debater comigo em público. Virei a bête noire da UFPA (pelo menos a frase rima).
Mas não da Universidade Federal do Amapá, que, espontaneamente, sem meu pedido e sem qualquer lobby, me concedeu o título de doutor honoris causa. Trinta anos antes, os professores Jean Hébette e Raul Navegantes quiseram me conceder menos, o título de notório saber, mas o pedido foi rejeitado pelo conselho universitário. Ressalto que a iniciativa não foi minha, mas dos dois queridos amigos, com os quais trabalhei no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Só soube da iniciativa quando a decisão foi tomada.
Outro amigo do peito, Fernando Coutinho Jorge, quando prefeito de Belém, também tentou me homenagear com a mais importante condecoração do município, a medalha Caldeira Castelo Branco. Escrevi um artigo justificando a minha recusa: não ia dividir a presença com um empresário predador, o dono da Belauto, Jair Bernardino de Souza.
Mas aceitei, com honra e orgulho, o título de cidadão de Belém, por me considerar merecedor dessa homenagem, pelo tanto que já fizera por Belém (e ainda faço).
Já vou longe demais e muito cansado nesses considerandos, ao fim dos quais, agora, me refiro à homenagem que meus queridos amigos querem fazer nesta quarta-feira, dia 24, durante o pré-lançamento, no campus da UFPA, sobre as utopias amazônicas. Desde o primeiro comunicado que recebi alguns meses atrás, disse que não poderia participar desse ato.
Sinceramente, com toda lealdade e boa-fé, acho que esse momento passou. Hoje me considero derrotado. Não em relação ao que fiz até encerrar o Jornal Pessoal, em 2019. Se eu tivesse deixado de vez o jornalismo nessa data, não teria passado – nem estaria ainda passando – por tanta desilusão, tristeza, indignação e a dor da derrota.
Os assuntos mais importantes tratados neste blog não são lidos ou são lidos por pouca gente e têm raros comentários. Não era assim em plena ditadura, de 1966 a 1985, período durante o qual a acompanhei e a critiquei como jornalista profissional. Fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional em 1976, acusado de tentar jogar o povo contra as autoridades. Mas fui absolvido na auditoria militar e a justiça comum arquivou o processo.
Em plena democracia dos anos 1990, fui processado e condenado pelo crime de denunciar e provar o cometimento da maior história de grilagem de terras de todos os tempos no Pará. Enquanto a condenação me era imposta pela justiça do Pará, onde a pirataria fundiária era realizada, fui homenageado pelo Ministério Público Federal. O MPF conseguiu anular todos os registros fraudulentos que o empresário (paraense de nascimento) Cecílio do Rego Almeida obtivera no cartório de Altamira, usando informações que eu divulgara.
Obrigado a pagar indenização ao grileiro, decidi, para surpresa de queridos amigos, recorrer a uma subscrição pública, pela internet, para reunir o dinheiro necessário para fazer chegar ao conhecimento de todos o absurdo cometido pelo poder judiciário paraense.
Agradecido e honrado por todos que organizaram a publicação do livro e a homenagem a mim, decidi de certa forma repetir o que fiz no caso da grilagem: cobrar as responsabilidades de todos, em especial dos intelectuais e acadêmicos, pelos destinos da nossa Amazônia, que atravessa mais um período de destruição, como contracanto à propaganda ecológica.
Não rejeito, mas não quero ser homenageado quando percebo que a minha palavra não ecoa e não há preocupação em recolher os fatos que apontam a ruinosa verdade diante dos nossos olhos vesgos. Ou com tarja preta.
A imagem que abre este artigo é de autoria de Paulo Santos/Acervo H e mostra Lúcio Flávio Pinto durante sessão de fotos para a Amazônia Real feita em seu escritório, em Belém no ano de 2016.
As informações apresentadas neste post foram reproduzidas do Site Amazônia Real e são de total responsabilidade do autor.
Ver post do Autor